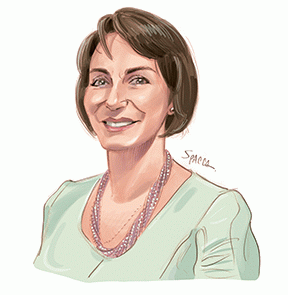 A força vinculante dos precedentes não é importante apenas para promover segurança jurídica e previsibilidade nas decisões. Ela serve, especialmente, para evitar o ativismo judicial, garantindo o que o professor de Harvard, Cass Sunstein, chama de minimalismo judicial, do qual a presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministra Maria Cristina Peduzzi, é adepta.
A força vinculante dos precedentes não é importante apenas para promover segurança jurídica e previsibilidade nas decisões. Ela serve, especialmente, para evitar o ativismo judicial, garantindo o que o professor de Harvard, Cass Sunstein, chama de minimalismo judicial, do qual a presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministra Maria Cristina Peduzzi, é adepta.
Isso significa, de acordo com a ministra, que antes de decidir, o juiz tem que conhecer suas capacidades institucionais, sabendo por exemplo a quantidade de processos em seu acervo, além de quantos assessores dispõe e quais as competências que precisa exercer.
Em entrevista exclusiva à ConJur, a ministra afirma que “a lei é protecionista naquilo que deve ser”, como na proteção às mulheres grávidas e lactantes. “A lei deve, quando é necessário, proteger. Mas não o juiz. O juiz tem que ser isento. O juiz não é protetor de A ou B. Porque advogado pode ter paixão, e até deve, na defesa do seu cliente e da causa, mas o juiz tem que ter celeridade, neutralidade, equilíbrio e equidistância das partes. E tem que aplicar a lei.”
Em relação às novas modalidades de trabalho em plataformas como a Uber, Rappi e Ifood — não abarcadas pela Reforma Trabalhista — a ministra defende a necessidade de se “estabelecer um patamar mínimo civilizatório, independente do vínculo de emprego”. Seu entendimento é de que o prestador de serviço precisa de segurança em termos de saúde e de garantias previdenciárias.
Pedduzi é natural do Uruguai, mas chegou ao Brasil ainda criança para morar em Bagé (RS). Optou pela nacionalidade brasileira. Tendo passado mais de 25 anos na advocacia, pode-se dizer que hoje a ministra, com 67 anos, alcançou o ápice da carreira: carregará em seu currículo a histórica nomeação como primeira mulher a presidir a Corte Superior do Trabalho.
À frente do TST, diz que uma de suas prioridades é a de mostrar à sociedade e às outras instituições a importância da Justiça do Trabalho. Acerca das ideias sempre ventiladas sobre o fim da Justiça do Trabalho como forma de economia do Judiciário, a ministra rebate: “o Poder Judiciário não foi feito para dar lucro ou produzir economia”.
A conversa gravada no gabinete da ministra também está sendo disponibilizada no canal da TV ConJur no YouTube.
Leia a entrevista abaixo:
ConJur — Com a automação, é prevista a substituição generalizada do trabalhador. Como a senhora imagina um mundo sem trabalho?
Maria Cristina Peduzzi — Primeiro se dizia que o homem estava sendo substituído pela máquina. Hoje se diz: o homem está sendo substituído pela tecnologia. E diz o professor de história em Jerusalém, Yuval Harari, que essa hipótese até hoje não se concretizou e não vai se concretizar, porque o que precisa é atualizar-se, investir em formação e capacitação. As pessoas têm que se ajustar às novas demandas do mercado e habilitar-se para o exercício de profissões que estão demandando pessoas. Mas nós sempre necessitaremos do trabalho humano. Este nunca será extinto.
ConJur — O Poder Executivo extinguiu o Ministério do Trabalho. Que falta ele fez?
Maria Cristina Peduzzi — A extinção do Ministério do Trabalho ocorreu em um contexto de extinção de outros ministérios também, para enxugar o número de ministérios. No entanto, as funções do Ministério do Trabalho estão preservadas e o grande exemplo é a fiscalização do trabalho. Temos os fiscais exercendo o seu trabalho sem nenhuma alteração. As demais funções, que antes eram exercidas pelo Ministério, hoje são pela Secretaria do Trabalho.
ConJur — Existem pressões localizadas até mesmo pelo fim da Justiça do Trabalho. Como a senhora vê isso?
Maria Cristina Peduzzi — Em primeiro lugar, não vejo qualquer argumento que diga que isso vai provocar alguma economia, pelo contrário. O Poder Judiciário não foi feito para dar lucro ou produzir economia. Mas a estrutura da Justiça do Trabalho é maior, inclusive, do que a estrutura da Justiça Federal. As demandas são em número maior. Qual é a minha preocupação? Primeiro, é revelar a importância da Justiça do Trabalho no exercício da sua função institucional de não só conciliar, mas, quando não for possível, resolver o conflito social e pacificar as relações.
O relatório Justiça em Números identificou que o ramo do Poder Judiciário mais célere e que mais conciliou foi a Justiça do Trabalho. A função de conciliar, prevista desta a edição da CLT, está cada dia mais aprimorada. A Justiça do Trabalho vem sendo realmente campeã, com CEJUSCs interiorizados e tem conseguido êxitos enormes no sentido de prevenir, desta forma, o ajuizamento do conflito. Temos a mediação dos dissídios coletivos em que se previne greves ou, desde logo, promove acordos que põem fim a greves que afetam a sociedade. Além da conciliação temos a mediação judicial e a resolução do conflito. É um ramo do Poder Judiciário que vem desempenhando com muita eficiência a jurisdição. Dos ramos do Poder Judiciário, a Justiça do Trabalho é a mais informatizada.
ConJur — Há alguns anos dizia-se que a Justiça do Trabalho não dava conta de julgar todos os processos que tem. Depois da reforma os números caíram nos tribunais superiores?
Maria Cristina Peduzzi — No primeiro ano foi instituído o princípio da sucumbência. Isto causou inicialmente uma redução de 34% no número de reclamações trabalhistas ajuizadas no primeiro grau. Mas em 2019, identificamos que 4% de acréscimo já foi produzido. Então, na verdade, houve uma redução de 30%. E a situação já está assimilada. Nos tribunais, especialmente no TST, nós ainda não tivemos esta percepção. Não há ainda, numericamente, constatada qualquer redução, porque os recursos interpostos já estavam em tramitação.
ConJur — Há espaço para uma nova Reforma Trabalhista?
Maria Cristina Peduzzi — Não sei se uma nova Reforma Trabalhista. A reforma que foi feita alcançou diversos institutos e procurou atualizar a CLT, disciplinando o trabalho intermitente, o trabalho em tempo parcial, o teletrabalho, que já vinha sendo praticado em uma modalidade muito eficiente. Inclusive incorporou à CLT a disciplina do trabalho autônomo. Ocorre que hoje a velocidade da tecnologia é muito grande, então há outros fenômenos, outras formas de produção e de prestar o trabalho que não foram disciplinadas, que é o trabalho por meio das plataformas digitais, a inteligência artificial, a robótica, cibernética etc. São modalidades que estão já chegando aos tribunais, com os conflitos delas derivados, como é o caso do trabalho por meio do Uber.
É um leque de opções na economia on demand. Hoje não há uma coleção de automóveis esperando que o comprador chegue para adquirir um. Passou-se a produzir de acordo com a demanda e é assim em todos os ramos de atividades. Realmente, mudou a forma de prestação de trabalho, a forma de produção, e isto, sem dúvida, enseja uma legislação que regulamente essas novas formas de trabalho e de produção. Isto promoverá segurança jurídica, porque teremos uma regra jurídica disciplinando, o que hoje não temos nem no tocante à definição da responsabilidade civil nas relações que existem por meio de plataformas digitais.
ConJur — Enquanto não vem esse arcabouço jurídico para a nova realidade, que tipo de resposta pode dar a Justiça?
Maria Cristina Peduzzi — A Justiça tem que dar resposta, ela não pode deixar de julgar. Se julga com a lei pretérita e se aplicam princípios constitucionais. Se constroem decisões com fundamento, quando não há uma regra específica, com base nos princípios constitucionais e legais, e com base nos precedentes. Temos os precedentes vinculantes, no Supremo Tribunal Federal há repercussão geral, e na Justiça do Trabalho, para o TST, temos o chamado incidente de recursos repetitivos. Temos também um outro incidente que é chamado de assunção de competência, quando não há uma repetição de casos. Significa que, se um caso se revela muito importante, vamos decidir por meio de uma decisão do pleno do TST, em caráter geral, e firmar uma tese que será aplicada pelos demais tribunais.
ConJur — O protecionismo da Justiça do Trabalho um dia já foi colocado como uma acusação, uma provocação, até que passou a fazer parte do senso comum. A senhora diria que esse paternalismo é que explica a redução paulatina da competência material da Justiça trabalhista pelo STF?
Maria Cristina Peduzzi — A lei é protecionista naquilo que deve ser. Protege a mulher naquilo que exige esforço físico além das suas capacidades, protege a gestante e lactante contra o exercício do trabalho insalubre. Mas há o que muitos chamam de falsas proteções, porque excluem a mulher. Há, inclusive, dispositivos que tipificam como um ilícito trabalhista e criminal a discriminação em qualquer das suas espécies. Isso é importante. A lei deve, quando é necessário, proteger. Mas não o juiz. O juiz tem que ser isento. O juiz não é protetor de A ou B. Porque advogado pode ter paixão, e até deve, na defesa do seu cliente e da causa, mas o juiz tem que ter celeridade, neutralidade, equilíbrio e equidistância das partes. E tem que aplicar a lei.
Acerca da competência, temos algumas decisões do Supremo Tribunal Federal que afirmaram a competência da Justiça comum quando nós aqui julgávamos casos. Em um exemplo, o STF alterou o entendimento do TST para afirmar que a competência para julgar os litígios que decorrem de complementação de aposentadoria privada é da Justiça comum. Mas não me parece que a causa seja essa assinalada, que seja política, não. É questão de uma visão jurídica da questão.
ConJur — A questão do ativismo judicial se coloca hoje perante o Supremo Tribunal Federal, perante o STJ, principalmente na matéria criminal. Quais são os limites do chamado ativismo judicial?
Maria Cristina Peduzzi — Tenho estudado bem essa matéria e digo que o ativismo judicial não é um fenômeno brasileiro, menos ainda exercido por voluntarismo do juiz. É um fenômeno constatado há décadas, em mais de 80 países. O professor Ran Hirschl estuda e identifica muito bem o que ele chama de juristocracia, que significa que hoje o juiz diz não só sobre o direito, mas também sobre a política. E isto se observa de forma generalizada.
Os Poderes Executivo ou Legislativo muitas vezes transferem para o Judiciário esse encargo de dizer sobre questões que são controvertidas. Hoje temos o Poder Judiciário dizendo sobre o aborto, sobre a filiação partidária, sobre a antecipação terapêutica da gravidez do feto anencéfalo, sobre pesquisas com células-tronco inabilitadas para a reprodução… E nas esferas especializadas também isto está ocorrendo. É um fenômeno ocasionado, diz o professor Hirschl, pela transferência destas competências dos poderes para o Judiciário, que seria, digamos, o poder mais apolítico: não é eleito, é um cargo vitalício. E isto também está sendo exercitado em situações no Poder Judiciário trabalhista, em que não há uma regra jurídica expressa, que nós vimos que a velocidade das mudanças é muito grande ou porque um caso é muito difícil.
ConJur — E qual seria a melhor solução?
Maria Cristina Peduzzi — O professor de Harvard, Cass Sunstein, examinando as consequências do ativismo judicial, propõe o chamado minimalismo judicial. Ele diz que o juiz tem que, antes de decidir, saber das suas capacidades institucionais. Quantos processos ele tem para julgar, quantos assessores tem para ajudar, quais as competências que precisa exercer e os efeitos dinâmicos da decisão. Nesse contexto, precisa dar racionalidade à sua atividade, buscar imprimir celeridade e julgar o caso concreto sem que o seu subjetivismo componha a decisão ou interfira na decisão. Nessa perspectiva vejo a importância dos precedentes com força vinculante, porque é a forma de dar e promover segurança jurídica, previsibilidade às decisões, por meio da fixação destes temas.
ConJur — Quais parâmetros a senhora entende adequados para a negociação coletiva entre sindicatos e empresas? De modo a se substituir as normas legais vigentes.
Maria Cristina Peduzzi — A lei disciplina o processo prévio que conduz a negociação. Se frustrada, temos um dissídio coletivo que será julgado pela Justiça do Trabalho. Mas acho que o principal para que a negociação coletiva seja eficiente e que reproduza, edite e convencione normas que atendam os interesses da categoria é esse: ela tem que sempre presidir a fixação das cláusulas, o interesse das categorias ali representadas.
ConJur — Sem a contribuição sindical obrigatória, é viável sindicato no Brasil? A Reforma Trabalhista deveria ser precedida por uma Reforma Sindical?
Maria Cristina Peduzzi — Tão logo vigente a reforma trabalhista, o Supremo afirmou a constitucionalidade da extinção da contribuição sindical compulsória. Os sindicatos sobrevivem. Sem dúvida há outros mecanismos, não só a contribuição voluntária do filiado ao sindicato, como também a negocial mediante prévia e expressa anuência do trabalhador. Na medida em que o sindicato está atuante na defesa da sua categoria, o próprio trabalhador terá interesse nessa filiação e em contribuir, porque a união faz a força. A organização sindical tem importância não só para o sindicato, mas sobretudo para o trabalhador.
A reforma sindical é importante. A grande temática é se adotará o pluralismo ou mantém a unicidade. No Brasil prevalece, por força inclusive de norma constitucional, a tradição da unicidade, que é da época do Estado Novo. Existe a convenção 87 da OIT, que o Brasil nunca pode ratificar exatamente porque está constitucionalizado no artigo 8º, inciso II, o princípio da unicidade. Confesso que não sei o que é melhor, porque ambos têm argumentos favoráveis para a sua adoção. É uma questão que caberá ao Congresso Nacional, após um amplo debate, definir e encontrar a melhor solução política. Não é o Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem que aplicar a lei. Quem edita a lei é o Poder Legislativo.
ConJur — Os direitos trabalhistas são cláusula pétrea?
Maria Cristina Peduzzi — A Constituição de 1988, no artigo 7º, positivou no seu texto os direitos sociais. Há quem sustente que os direitos sociais constituem cláusula pétrea. Eu entendo que não, porque o artigo 60, dispõe como cláusula pétrea: a Federação, o voto secreto universal, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Qual é a consequência de considerar ou não cláusula pétrea? Considerar os direitos sociais positivados na Constituição. Se é cláusula pétrea, não pode ser alterada por emenda constitucional. E, em se tratando de uma norma constitucional que não é cláusula pétrea, poderá ser alterada e até suprimida por norma, por uma emenda constitucional. O que não significa retirar da Constituição um direito, até porque os direitos constitucionalizados internam declarações internacionais. Significa apenas admitir que por emenda constitucional pode haver alteração. O que também não significa que uma lei ordinária não possa discipliná-lo com a eficácia devida.
ConJur — A democracia tem essa característica da abertura para o contraditório e para a divergência. Assistimos hoje, em especial, uma polarização no país, inclusive nos tribunais. Como é que está a vitalidade política interna do TST hoje?
Maria Cristina Peduzzi — O TST tem uma convivência harmônica. Nas decisões, as individualidades são respeitadas. Alguns ministros têm uma posição que pode ser diferente da de outro a respeito da mesma tese jurídica, então respeitamos as convicções individuais de cada um, sempre no ambiente de celeridade. A decisão pode ser tomada no órgão colegiado, mas ela é pessoal. O importante é que a convivência no Tribunal é muito boa, de muito respeito. Todos trabalham muito. Felizmente, esta preocupação civilizatória que temos aqui, e harmoniosa, é muito importante para o bom convívio de todos. Posso dizer que convivemos muito bem e tenho muito orgulho, exatamente, de poder hoje presidir um Tribunal onde identifico a preocupação de todos em trabalhar, trabalhar bem, trabalhar muito, e aqui desempenharmos a nossa atividade fim com muito zelo.
ConJur — Durante a discussão da reforma, um grupo de ministros chegou a se manifestar publicamente contra alguns pontos dela. Aprovada a lei, como que o Tribunal e a Justiça de Trabalho se portaram diante das modificações feitas?
Maria Cristina Peduzzi — A avaliação política da edição de uma norma é do Poder Legislativo. O Poder Judiciário, antes da lei editada, não deve manifestar-se, penso eu. Ele é um outro Poder, então tem que respeitar o Poder Legislativo. Agora, editada a lei pelo poder competente, cabe ao Poder Judiciário aplicá-la. Goste ou não goste, porque é lei devemos aplicá-la, é a nossa função.
ConJur — Como a senhora percebe o avanço da mulher no mercado? Como é a composição dos magistrados do trabalho em relação ao gênero?
Maria Cristina Peduzzi — A Justiça do Trabalho é também a mais igualitária em relação a gênero. No primeiro grau há um pouco mais de 50% de mulheres juízas. Nos tribunais regionais, quase 40%. É um ramo do Poder Judiciário que puxa para cima a estatística de participação feminina. No Tribunal Superior hoje somos cinco, que dá o percentual de 18,5%. A tendência é de que o crescimento seja logo corrigido, porque na medida em que temos na base já uma preponderância de mulheres e nos tribunais regionais ainda não está equalizado, mas também não há disparidade, naturalmente vamos corrigir.
Para que a disparidade seja reduzida, tem muita relevância o trabalho de esclarecimento de como as mulheres contribuírem com o seu trabalho bem feito e com a sua capacidade de trabalho, com a sua garra. Falamos aqui de concurso público, onde está garantido só a meritocracia. No plano dos servidores, temos maioria de mulheres na Justiça do Trabalho. Aliás, em todo o Poder Judiciário há mais servidoras do que servidores. Na Justiça Estadual e Federal é um pouco maior o número de mulheres do que o de homens. Nas promoções, em cargos de chefia, no plano de servidores as mulheres são a maioria. Aqui no TST temos maioria de mulheres em cargos de chefia. Mas na iniciativa privada isso não ocorre.
ConJur — Com o número alto de mulheres servidoras, a que se deve então o número reduzido de ministras nos tribunais superiores?
Maria Cristina Peduzzi — O percentual das mulheres nos tribunais superiores será corrigido, é questão de pouco tempo. No TST, quando se publica um edital para que todos os desembargadores interessados em disputar a vaga se habilitem, inscrevam-se, tem havido, preponderantemente, inscrição de homens e poucas mulheres. Então precisamos realmente estimular as mulheres.
ConJur — As medidas protetivas da mulher na legislação do trabalho dificultam ou ajudam na participação da mulher no mercado?
Maria Cristina Peduzzi — Há quem diga que são falsas proteções. Algumas realmente são necessárias, mas que na verdade são falsas proteções no sentido em que são excludentes. Digo que só no dia em que nós adotarmos aqui licença parental, como na Alemanha, é que teremos equalização. É uma questão mais cultural e que já está em mudança. Hoje a licença paternidade aqui é entre cinco a 20 dias. A maternidade é de quatro a seis meses. Se nós equalizarmos os períodos, cada empregador responderá pelo afastamento do seu empregado, homem e mulher. Sem dúvida, equalizando a lei nós equalizaremos o acesso da mulher ao mercado de trabalho.
ConJur — A Justiça do Trabalho poderia ser estadualizada, já que não há um interesse direto de bens da União em jogo?
Maria Cristina Peduzzi — Não, a Justiça do Trabalho é a Justiça Federal. Aplica-se uma lei federal. Está fora de cogitação falar que ela poderia ser estadualizada.
ConJur — O país tem vivido transformações acentuadas em todos os segmentos. Qual prognóstico faz para esse período vindouro, em especial, para a Justiça do Trabalho?
Maria Cristina Peduzzi — Temos como desafio permanente o julgamento de um número elevado de processos, com rapidez e eficiência. Daí o estímulo aos mecanismos de composição que nós aqui exercitamos. O juiz deve ter conhecimento para julgar, especialmente antes de termos normas específicas que disciplinem essas modalidades, como o Uber, um conflito que já chegou ao TST buscando a 5ª Turma e teve uma precedente decisão da 8ª, da qual eu participei como integrante.
O que é necessário é estabelecer um patamar mínimo civilizatório, independente do vínculo de emprego para as pessoas que estão trabalhando. Não é porque é um trabalho digital que ele pode ser exercido durante 16 horas por dia ou sem qualquer controle, sem qualquer garantia. O consumidor avalia o prestador de serviço, mas o prestador de serviço também tem que avaliar o consumidor. Algumas regras têm que ser estabelecidas. Como essas relações vão ser operadas, protegendo-se a saúde de quem trabalha, protegendo-se por forma de garantias previdenciárias… Não só se adoecer ou se não adoecer, mas a previdência social, quando não tiver mais condições de trabalhar. É importante se fixar um patamar normativo que alcance estas relações que se estabelecem por um prestador e que atingem todo tipo de serviço.




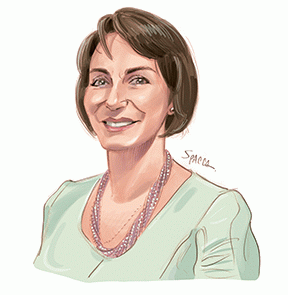
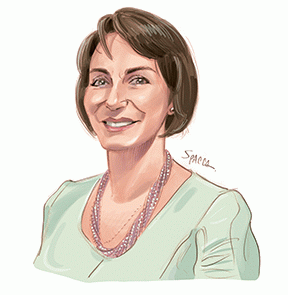 A força vinculante dos precedentes não é importante apenas para promover segurança jurídica e previsibilidade nas decisões. Ela serve, especialmente, para evitar o ativismo judicial, garantindo o que o professor de Harvard, Cass Sunstein, chama de minimalismo judicial, do qual a presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministra Maria Cristina Peduzzi, é adepta.
A força vinculante dos precedentes não é importante apenas para promover segurança jurídica e previsibilidade nas decisões. Ela serve, especialmente, para evitar o ativismo judicial, garantindo o que o professor de Harvard, Cass Sunstein, chama de minimalismo judicial, do qual a presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministra Maria Cristina Peduzzi, é adepta.