Durante o conturbado período atual, com a pandemia da Covid-19, surgem novos fatos que não encontram correspondência direta com o ordenamento jurídico. A tarefa que se impõe a operadores do Direito para adequar-se à realidade é construir o novo a partir dos instrumentos oferecidos pelo sistema normativo concebido em e para tempos de normalidade.
 O Processo Civil também sentiu os impactos da pandemia. As limitações impostas pelo distanciamento social fizeram com que os órgãos do Poder Judiciário adotassem medidas para impedir ou restringir ao máximo a prática de atos que demandam a presença dos atores do processo. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou as Resoluções nº 313 e 314, pelas quais determinou a suspensão do atendimento presencial a partes e advogados e estabeleceu a vedação da prática de audiências presenciais, facultando sua realização por meio virtual quando todos os envolvidos tiverem acesso aos meios necessários.
O Processo Civil também sentiu os impactos da pandemia. As limitações impostas pelo distanciamento social fizeram com que os órgãos do Poder Judiciário adotassem medidas para impedir ou restringir ao máximo a prática de atos que demandam a presença dos atores do processo. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou as Resoluções nº 313 e 314, pelas quais determinou a suspensão do atendimento presencial a partes e advogados e estabeleceu a vedação da prática de audiências presenciais, facultando sua realização por meio virtual quando todos os envolvidos tiverem acesso aos meios necessários.
A previsão normativa em questão afetou o procedimento comum logo em seu início, pois, ao acolher a petição inicial, o juiz deverá citar o réu para comparecer à audiência de conciliação, após a qual terá início o prazo para apresentação de resposta (artigo 334 e 335 CPC).
Enquanto o CPC foi estruturado para a tentativa de conciliação presencial, as circunstâncias concretas, não imaginadas de antemão pelo legislador [1], impuseram o desenvolvimento de interpretações para a não realização do ato (“o existente”), e, sobretudo, a criação de soluções tecnológicas para essa fase de processo (“o possível”).
Diante disso, surgem questionamentos a respeito da viabilidade de realização do ato e da maneira pela qual o procedimento deve funcionar. É preciso investigar o existente, o possível e o desejável em relação à audiência de conciliação do artigo 334 CPC sem descurar, como ponto de partida, da importância de tal ato.
A previsão no CPC de audiência de conciliação para a abertura do procedimento comum veio no bojo de esforço mundial para a racionalização do processo e implantação da cultura dos meios alternativos de resolução de controvérsia, como se percebe nos países que adotam as duas maiores tradições jurídicas ocidentais. Sustenta Loïc Cadiet que o pluralismo do sistema processual não pode se furtar de combinar diversos modos de solução de controvérsias para o máximo alcance da boa Justiça [2].
A legislação processual francesa (Code de procédure civile) estabelece, em seu artigo 21, a missão de conciliação do juiz como um princípio basilar do processo (“Il entre dans la mission du juge de concilier les parties”), oferecendo-lhe estrutura com conciliadores para atingir seu propósito. Os meios alternativos de solução de controvérsias são considerados suas principais tendências [3].
O movimento de reforma do processo civil inglês teve por norte o incentivo à adesão das partes às ADRs (alternative dispute resolution), constando no relatório que antecedeu à implementação da lei processual que o ideal era evitar o litígio o tanto quanto possível [4]. Neil Andrews noticia que juízes comemoraram o êxito dos meios consensuais de solução de conflitos, resolvendo-os por vários métodos, entre os quais a prolação da sentença era apenas um, e o menos desejado. Indica, ainda, que os protocolos pré-litígio enfatizam a responsabilidade das partes de considerarem as ADRs [5].
A tendência de incentivo aos meios alternativos de solução de conflitos encontra apoio também no princípio nº 24 dos Principles of Transnational Civil Procedure [6].
No Brasil, a partir da estrutura do CPC, que conta com dispositivos a respeito da conciliação ao longo do texto, há quem sustente um “princípio do estímulo da solução por autocomposição” [7]. Aliás, no caso brasileiro, a previsão da audiência de conciliação inaugural representa um reencontro com sua história [8].
Como se vê, a audiência de conciliação prevista no artigo 334 do CPC não pode ser tida como formalidade inútil, pois inserida com o fim de cultivar política de conciliação e solução de conflitos por meios alternativos, tônica do cenário mundial.
Atualmente, com a pandemia da Covid-19 obstando a prática de atos que demandam a presença das partes, surgiram notícias sobre alternativas tecnológicas para as audiências presenciais. Há, inclusive, interessante iniciativa do site “Remote Courts Worlwide“ (https://remotecourts.org) compilando soluções tecnológicas criadas para a prestação jurisdicional no período de quarentena.
O Tribunal de Justiça do Paraná, no âmbito dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, criou um procedimento especial para a realização de sessões de conciliação e mediação, por intermédio de ferramentas virtuais de comunicação (videoconferência, aplicativos de mensagem instantânea, e-mail, chat, aplicativos como Zoom, WhatsApp, Skype ou similares), durante o período de suspensão das audiências presenciais (Portaria nº 3742/2020 — Nupemec). Frise-se que a recente Lei 13.994/2020 positivou a possibilidade de realização, no âmbito dos juizados especiais, de conciliação não presencial conduzida mediante o emprego dos recursos tecnológicos disponíveis de transmissão de sons e imagens em tempo real.
Em se tratando da audiência do artigo 334/CPC, havendo a possibilidade de sua realização de forma virtual, o demandado, quando citado para participar da audiência de conciliação virtual, deve ser cientificado dos meios pelos quais pode manifestar interesse na audiência, e existindo interesse, deve informar qual ferramenta entre as disponíveis ele prefere utilizar, fornecendo seus contatos, como e-mail.
Além do “possível”, pode-se citar um caminho “desejável”, a ser criado a partir da experiência das conciliações virtuais. Richard Susskind, em seu livro “Online Courts and the Future of Justice” defende uma versão estendida dos tribunais (extended courts), através dos quais os usuários de serviços judiciários poderiam ter acesso a ferramentas de orientação, assim como para ter conhecimento das possibilidades de acordos judiciais [9].
Adaptando essa ideia às particularidades de nosso ordenamento e ao tema ora tratado, pode-se dizer que as audiências de conciliação virtuais poderiam ser precedidas de chats entre as partes, com a intermediação de “robôs”, os quais teriam um papel mais ativo na busca da solução consensual. A utilização de chatbot no Judiciário não é uma novidade e há interessantes iniciativas, como por exemplo do Tribunal de Justiça de Roraima, para comunicação com usuários e automação de tarefas repetitivas [10].
Todavia, para avançar nesse tema, é necessário (e desejável) o desenvolvimento de ferramentas de integração do banco de dados de jurisprudências, do respectivo órgão julgador ou tribunal, fazendo com que o chatbot possa informar às partes os possíveis precedentes aplicáveis ao caso, o que auxiliaria nas discussões para realização de soluções consensuais. Por exemplo: o autor postula a condenação do demandado pela prática de danos morais, em virtude de cobrança indevida, requerendo o valor de R$ 10 mil. O demandado, no ambiente virtual prévio à audiência conciliatória, oferece o valor de R$2 mil para a realização de acordo. O robô, em consulta ao respectivo banco de dados, pode trazer às partes decisões prolatadas em casos análogos, por exemplo, com o entendimento de que o respetivo juízo tem decisões condenatórias, no importe de R$5 mil, em casos análogos.
O sistema de conciliação automatizado (prévio à audiência) deve possuir uma interface amigável (user-friendly), seja em termos jurídicos, considerando que eventualmente partes sem advogado irão utilizá-lo, seja em relação ao conhecimento de informática [11]. Além de facilitar o diálogo entre as partes, tal ferramenta auxiliaria o trabalho dos conciliadores na audiência. Com efeito, não se trata de uma pesquisa aprofundada, como aquelas que eventualmente serão realizadas pelos atores processuais, e também o sistema não deve realizar uma análise do mérito do caso concreto. Deve ser uma ferramenta simples, de fácil acesso e utilização, diante do propósito para o qual foi criada [12].
O problema surge da constatação que nem sempre o “possível” e o “desejável” estão ao alcance. O acesso aos meios eletrônicos e o seu domínio pelos atores do processo não são triviais, e a própria Resolução nº 314 do CNJ cuidou de ressalvar que, diante de impossibilidade técnica de realização de atos processuais pelo meio virtual, estes deverão ser adiados. Diante deste quadro, cabe ao juiz trabalhar com o “existente”, extraindo da lógica do sistema jurídico processual espaço para promover a adequação do procedimento.
Isso porque a previsão legal da audiência não pode vir em sentido oposto à sua finalidade. Os esforços para uma cultura de conciliação não podem inviabilizar a tutela do direito. O juiz, na condução do processo, deve observar se o procedimento tem o condão de colocar fim à controvérsia a partir dos valores defendidos pelo próprio procedimento. O juiz não deve assumir papel de expectador passivo diante de reflexos negativos na marcha processual decorrentes da observância de procedimento que não se adequa às necessidades da causa ou quando não dispõe de instrumentos para o seu impulso na forma como concebido.
Com efeito, ainda que tenha havido certa incompreensão do legislador quanto ao papel do juiz na condução do procedimento — que culminou na retirada do anteprojeto do CPC de poder expresso do juiz de flexibilizá-lo — o fato é que o ordenamento jurídico impõe ao magistrado, em observância ao devido processo, que obste a prática de atos que retire do processo sua eficiência e sua lógica de funcionamento. Os clamores legais por eficiência, economia e celeridade, com exigências de atuação ativa do juiz, não permitem pensar em sentido contrário, anotando a doutrina que é “dever do juiz adequar o procedimento às necessidades do conflito, para tutelar de modo mais efetivo a pretensão que é deduzida” [13].
Se ao juiz é dada atividade criativa do Direito quando prolata decisão de mérito [14], soa razoável que a ele também seja dado conformar o procedimento às necessidades do direito a ser tutelado, desde que isso não implique violação a direitos processuais das partes e decorra de decisão motivada e de efetiva necessidade [15], com vista nos instrumentos que a lei oferece.
A partir daí, e não havendo caminhos para garantir a realização da audiência de conciliação, torna-se necessária a adequação do procedimento para afastar a necessidade do ato, seguindo o feito já para apresentação de defesa, tal como a lei processual prevê para procedimentos especiais.
O contexto de isolamento social dá espaço para interpretação do artigo 334, §4º, II, do CPC adequada à realidade por ela imposta. Na atual conjuntura, não sendo possível a realização da audiência virtual, torna-se inviável a autocomposição, não pela natureza do direito em litígio, mas pela segurança dos atores envolvidos e pela constatação de que a obrigatoriedade de sua realização não pode significar ressalva à inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, XXXV, CF). Embora não seja essa a interpretação que inicialmente se extrai da norma, é preciso lembrar que em tempos de excepcionalidade a relação entre fatos e norma adquire contornos novos, originalmente não considerados.
Além mais, é possível que o juiz, a partir dos poderes que ressaem do artigo 3º, §2º, e do artigo 139, V, do CPC, promova a realização de audiência de conciliação no curso do procedimento, sem contar a possibilidade de as partes, por si sós, aproximarem-se para tal desiderato. A adaptação do procedimento para que este prossiga com a defesa do réu após sua citação encontra amparo na lógica de funcionamento de outros procedimentos previstos em lei e na recente tradição processual brasileira. Tal atitude não decorreria de criação a partir de mera discricionariedade do juiz, mas de uso da analogia em caso de lacuna da lei (artigo 4º, LINDB) para situações de funcionamento excepcional do sistema de Justiça.
O comprometimento do sistema de Justiça com a cultura da conciliação e sua atuação como agente transformador da lógica da litigância impõem buscas efetivas entre o “possível“ e o “desejável“ para a garantia da realização da audiência de conciliação do artigo 334 do CPC. Prestigiar a conciliação significa entregar às partes a solução dos seus problemas, realçando a finalidade da jurisdição de busca pela pacificação social. Todavia, os caminhos alternativos de solução de conflitos pressupõem meios seguros, pouco custosos e eficientes para o alcance de seu objetivo. A ausência dessas condições e as limitações de recursos materiais e humanos não podem obstruir o andamento do procedimento, de modo que trabalhar com o “existente“ — enxergando no ordenamento espaço para adequar o procedimento com a superação daquela fase inicial — pode ser, ainda que como movimento excepcional, importante alternativa a ser considerada.
[1] Essa reflexão remete à ideia de derrotabilidade e à constatação de que o legislador não consegue antecipar todas as situações fáticas em torno da aplicação de determinada norma. Sobre o tema, veja-se obra do primeiro autor, Hermenêutica Jurídica e Derrotabilidade.
[2] CADIET, Loïc. El equilíbrio entre la rigidez y la flexibilidad en el proceso: elementos de teoría general del proceso y de derecho procesal comparado. In: ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel (coord.). O Processo civil entre a técnica processual e a tutela dos direitos: estudos em homenagem a Luiz Guilherme Marinoni. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. p. 143-153.
[3] OLIVEIRA, Paulo Mendes. Segurança jurídica e processo. Da rigidez à flexibilização processual. São Paulo: RT, 2018. p. 92.
[4]Em “Lord Woolf’s Access to Justice reports”. Sobre o relatório e sua investida em prol de meios alternativos de controvérsia: GERLIS, Stephen; LOUGHLIN, Paula. Civil Procedure. 2. Ed. Londres: Routledge, 2012. p. 106-107.
[5] ANDREWS, Neil. O moderno processo civil. Formas judiciais e alternativas de resolução de conflito na Inglaterra. Orientação e revisão da tradução de Teresa Arruda Alvim. 2. Ed. São Paulo: RT, 2012. p. 350.
[7] DIDIER JR, Fredie. Curso de processo civil: introdução ao direito processual civil. 17. Ed. Salvador: JusPodivm, 2015. p. 274.
[8] Conforme lei de 29 de novembro de 1832, que estabelecia disposição provisória sobre a Administração da Justiça Civil. Os primeiros artigos do Anexo tratavam do início do procedimento a partir de tentativa de conciliação, diante de juízes de paz.
[9] “The more general conception is of a system that takes advantage of technology and is able to extend its reach beyond the tradicitional remit of traditional courts. On the model, technology can and should enable courts to deliver more than judicial decisions. The extended courts provide tools, for exemple, that can help court users understand relevant law and the options available [sic] to them. They can guide users in completing court forms, and help them to formulate their argumetns and assemble their evidence. They can also offer various forms of non-judicial settlement such as negotiation and early neutral evaluation, not as and alternative to the public court system but as part of it”. (SUSSKIND, Richard. Online Courts and the Future of Justice. Oxford University Press, 2019. p. 06).
[11] “If user of online courts are not lawyers, however, they will clearly need some help in navigating the systems”. (SUSSKIND, Richard. op. cit. p. 126).
[13] MARINONI, et. al. Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. São Paulo: RT, 2016. p. 213.
[14] CAPPELLETTI, Mauro. Juízes legisladores? Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris editor, 1993.
[15] GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Flexibilização procedimental. Um novo enfoque para o estudo do procedimento em matéria processual. São Paulo: Atlas, 2008.
![]() Tanto as empresas como as pessoas físicas estão mergulhadas na economia de mercado. A prevenção e o tratamento do superendividamento em tempo de pandemia constituem processo que exige a união de todos os atores do processo produtivo.
Tanto as empresas como as pessoas físicas estão mergulhadas na economia de mercado. A prevenção e o tratamento do superendividamento em tempo de pandemia constituem processo que exige a união de todos os atores do processo produtivo.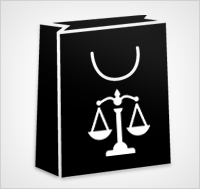

 O Processo Civil também sentiu os impactos da pandemia. As limitações impostas pelo distanciamento social fizeram com que os órgãos do Poder Judiciário adotassem medidas para impedir ou restringir ao máximo a prática de atos que demandam a presença dos atores do processo. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou as Resoluções nº 313 e 314, pelas quais determinou a suspensão do atendimento presencial a partes e advogados e estabeleceu a vedação da prática de audiências presenciais, facultando sua realização por meio virtual quando todos os envolvidos tiverem acesso aos meios necessários.
O Processo Civil também sentiu os impactos da pandemia. As limitações impostas pelo distanciamento social fizeram com que os órgãos do Poder Judiciário adotassem medidas para impedir ou restringir ao máximo a prática de atos que demandam a presença dos atores do processo. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou as Resoluções nº 313 e 314, pelas quais determinou a suspensão do atendimento presencial a partes e advogados e estabeleceu a vedação da prática de audiências presenciais, facultando sua realização por meio virtual quando todos os envolvidos tiverem acesso aos meios necessários.