A dinâmica do mercado é complexa e pressupõe a articulação de vários atores, além do respaldo expresso em políticas legislativas para que estejam garantidas as condições essenciais no sentido do equilíbrio das relações contratuais e do paradigma da boa-fé objetiva.
![]() Tanto as empresas como as pessoas físicas estão mergulhadas na economia de mercado. A prevenção e o tratamento do superendividamento em tempo de pandemia constituem processo que exige a união de todos os atores do processo produtivo.
Tanto as empresas como as pessoas físicas estão mergulhadas na economia de mercado. A prevenção e o tratamento do superendividamento em tempo de pandemia constituem processo que exige a união de todos os atores do processo produtivo.
Nessa conjuntura, empresas e trabalhadores, o duo da economia capitalista, não podem ser compreendidos de forma apartada, especialmente com a pandemia e a inerente aceleração da crise econômica.
Portanto, todos os consumidores e seus núcleos familiares devem receber políticas públicas equânimes, para que tenham a oportunidade de sair do endividamento em que estão mergulhados.
O Brasil conta com 60 milhões de pessoas físicas endividadas, número correspondente a 40% da população adulta. Segundo dados do Banco Central [1] e da Confederação Nacional do Comércio, os principais motivos para o superendividamento são a redução de renda (26,5%), o desemprego (24,3%) e a doença (18%). Estima-se que esse número aumente consideravelmente, tendo em vista a perda da renda e o desemprego que avançam velozmente em todas as regiões do país com a chegada da pandemia.
A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal) afirma que a economia da América Latina cairá 5,3% e a da América do Sul, cerca de 5,2% neste ano, com quase 30 milhões de pessoas passando por desemprego e pobreza [2].
O fenômeno do endividamento das famílias não é um privilégio do Brasil [3].
As famílias argentinas vivenciam situação similar à das brasileiras endividadas com agravamento em plena pandemia, para fazer frente às suas despesas essenciais.
Registre-se uma grande diferença, o governo argentino já congelou os valores dos aluguéis; contudo, assim como no Brasil, a “moratória” não constitui solução para o futuro, pois apenas desloca por um tempo a espada da cabeça das famílias de consumidores.
A Acción del Consumidor (Adelco), junto com a Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Argentina y la Asociación Civil Cruzada Cívica, propõem um projeto de lei de insolvência familiar [4] visando, a exemplo do PL3515, a implementar um plano para regularizar as dívidas para as pessoas físicas que não estão protegidas, como as empresas, por dispositivo legal do concurso de credores ou declaração de falência.
A crise econômica em curso no Brasil, com empobrecimento, precarização do trabalho e crédito sem riscos para as instituições financeiras, é acelerada pela pandemia da Covid-19, com forte repercussão na realidade das famílias endividadas.
O reconhecimento da relevância da inclusão do consumidor no mercado é traduzido em países como os Estados Unidos, que estendem os benefícios da falência às pessoas físicas, concretizando o princípio do fresh start [5], ou seja, o direito de recomeçar dos devedores, que uma vez reabilitados financeiramente, tornam-se atores fundamentais no ciclo econômico, produzem renda e realizam gastos de consumo.
Muito se tem escrito e debatido nos campos acadêmico, legislativo e judiciário sobre a importância social e econômica da falência das empresas e sobre o quanto são importantes ferramentas mais efetivas das políticas públicas, não só para enfrentar o penoso processo de recuperação das empresas no caminho para superar a crise econômica quanto para garantir sua função social.
No Brasil, o marco legal que orienta os pedidos de recuperação judicial das empresas é a Lei 11.101/2005, que estabelece as etapas necessárias para a reorganização das finanças da empresa sob o espírito de preservação da atividade empresária, de proteção dos credores e, principalmente, de garantia do mercado de trabalho.
Todavia, não é só a recuperação judicial de empresas que viabiliza o equilíbrio do mercado e a recuperação da economia com superação de crises.
Micro e pequenas empresas e consumidores estão unidos em uma luta da sociedade para sobreviver com dignidade. Mas estes últimos não têm oportunidade de renegociar suas dívidas para serem reincluídos no mercado. Há um vácuo no ordenamento jurídico brasileiro que não contempla o tratamento do superendividamento das pessoas físicas [6].
A exclusão de milhares de brasileiros endividados do mercado de consumo prejudicará a retomada econômica, uma vez que o consumo das famílias totalizou R$ 4,7 trilhões em 2019, representando 64,9% do PIB. A pandemia já atingiu o principal pilar de sustentação da economia brasileira, que registrou queda inédita em março de 2020 [7].
Para enfrentar a grave crise econômica, a legislação brasileira precisa refletir com precisão na prioridade das pessoas no mercado, na proteção dos consumidores, estejam eles reunidos em famílias constituídas em micro e pequenas empresas ou individualmente, e na necessidade de sua inclusão no mercado de consumo.
As possibilidades para o enfrentamento dessas questões concretizadas na segurança alimentar e no mínimo existencial não podem ser encontradas prontas ou de forma casuística. Exigem uma construção sólida e precedidas do diagnóstico comprometido com a preservação e qualidade da vida.
O PL 3515 muda isso!
O PL 3515/15, que trata da atualização do Código de Defesa do Consumidor em matéria de prevenção e tratamento do superendividamento, foi aprovado por unanimidade no Senado e está pronto para ser votado na Câmara de Deputados. É fruto de denso estudo empírico, longa reflexão da sociedade, além de anos de debates e mudanças/aperfeiçoamentos, e constitui uma solução completa para o presente e o futuro.
O projeto de lei inaugura práticas de crédito responsável e combate de assédio ao consumo de idosos e analfabetos há muito existentes em outras sociedades democratizadas de crédito, além de prever um procedimento que permite a recuperação dos consumidores e a sua reinclusão no mercado de consumo mediante a conciliação e a estruturação de um plano de pagamento em bloco das dívidas com todos os credores por meio da preservação do mínimo existencial para os devedores de boa-fé.
A realidade antes da pandemia mostrava a possibilidade de realização dessas conciliações em bloco entre o consumidor e todos os credores, pois já eram realizadas extrajudicialmente em algumas Defensorias Públicas e Procons e pré-processualmente no Judiciário, a exemplo de TJ-RS, TJ-PR, TJ-BA, TJ-PE, TJ-SP e TJ-DFT, com êxito [8]. O sucesso dessas iniciativas permitiu a incorporação de uma fase conciliatória no tratamento do superendividamento, reforçando a cultura do pagamento das dívidas e da educação financeira. A intervenção judicial com plano de pagamento compulsório somente ocorrerá quando inexitosa a tentativa de conciliação.
Logo, a aprovação do PL 3515 permitirá o resgate de milhares de brasileiros superendividados que tiveram a renda reduzida ou que perderam o emprego durante a pandemia, com impacto muito positivo na economia.
Nessa perspectiva, o Banco Mundial, desde 2012, já recomendava em seu relatório [9] a adoção de regimes de insolvência para pessoas físicas visando a um futuro produtivo e destacava que o ser humano por trás das empresas precisa ser protegido.
Uma vida a ser vivida, uma vida garantida, com o direito de recomeçar!
Clarissa Costa de Lima é juíza de Direito do TJ-RS, ex-presidente do Brasilcon, diretora adjunta da “Revista de Direito do Consumidor” e doutora pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Rosângela Lunardelli Cavallazzi é professora e pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e da PUC-Rio, cientista do Estado (Faperj). membro do Conselho Consultivo do IDEC e diretora do Brasilcon.
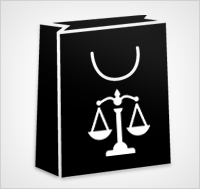




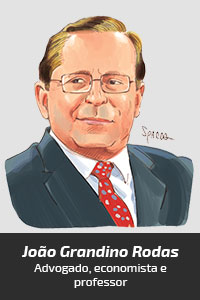
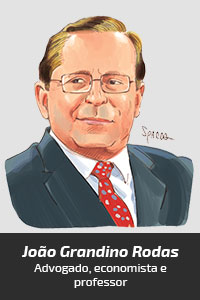 Os Cejuscs alcançaram o número de 1.088 nas Justiças Estaduais ao final do ano de 2018.
Os Cejuscs alcançaram o número de 1.088 nas Justiças Estaduais ao final do ano de 2018.