Marco Aurélio Mendes de Farias Mello, mais conhecido como Ministro Marco Aurélio, completou neste sábado (13/6) 30 anos de ofício perante o Supremo Tribunal Federal (STF).
 Ainda que as opiniões se dividam quanto ao estilo de sua atuação — reconhecida por fundamentadas divergências e boas doses de ironia —, é unânime a resposta à afirmação de que o vice-decano marcou e ainda marca a história da mais alta corte brasileira e, por consequência, do Direito nacional e do próprio Estado democrático.
Ainda que as opiniões se dividam quanto ao estilo de sua atuação — reconhecida por fundamentadas divergências e boas doses de ironia —, é unânime a resposta à afirmação de que o vice-decano marcou e ainda marca a história da mais alta corte brasileira e, por consequência, do Direito nacional e do próprio Estado democrático.
Ao longo destas três décadas, o magistrado não se furtou a emitir opinião acerca de temas polêmicos, seja a respeito dos demais poderes, de seus pares ou sobre o funcionamento do próprio tribunal, postura que, por vezes, colocou-o sob os holofotes da opinião pública, fato que não parece intimidá-lo e nem mesmo motivar a alteração de seus entendimentos.
 Trata-se de julgador que não se incomoda “em ficar na corrente minoritária”, “exigindo apenas que se consigne como votou” e que faz questão de dizer, com acerto, que os ministros não estão “no colegiado pra dizer amém como se fôssemos vaquinhas de presépio quanto ao relator”.
Trata-se de julgador que não se incomoda “em ficar na corrente minoritária”, “exigindo apenas que se consigne como votou” e que faz questão de dizer, com acerto, que os ministros não estão “no colegiado pra dizer amém como se fôssemos vaquinhas de presépio quanto ao relator”.
Seguindo à risca a premissa de que “o presidente (da Corte) é apenas um coordenador de iguais”, o Ministro Marco Aurélio é assertivo ao discordar dos colegas nesta posição, como comprovam as recentes críticas ao ministro Alexandre de Moraes. O desacordo com a decisão monocrática do colega, que suspendeu nomeação de cargo pelo Presidente da República, culminou em proposta de emenda ao regimento interno da corte a fim de transferir ao Plenário a competência para apreciar pedido de tutela de urgência, quando envolvido ato do Poder Executivo ou Legislativo praticado no campo da atuação precípua.
É certo que muito já se falou de sua marcante trajetória, da passagem pela advocacia, por Ministério Público e magistratura, também se destacou sua importância para a modificação da jurisprudência através da defesa de entendimentos minoritários e que, com o passar dos anos, foram consolidados pela Corte Suprema.
A análise de sua biografia revela outro ponto interessante: na gestão como presidente do STF, biênio de 2001/2003, abriu-se a primeira licitação com 30% das vagas reservadas para negros, visando a contratar profissionais para prestação de serviços de jornalismo.
Na ocasião, o vice-decano já defendia a adoção de cotas para pretos e pardos no serviço público como instrumento de combate à desigualdade, reconhecendo que “A neutralidade estatal mostrou-se nesses anos um grande fracasso”.
Suas colocações não poderiam ser mais pertinentes.
Em 2012, no histórico julgamento da ADPF 186/DF, que reconheceu a constitucionalidade da aplicação do sistema de cotas raciais em universidades públicas, nosso homenageado trouxe, em companhia do relator Ricardo Lewandowski e demais julgadores (cujos votos também merecem ser lidos na íntegra), importantes argumentos para a discussão dos impactos do racismo no Brasil e sobre a necessidade de práticas concretas para melhoria das condições de vida da população negra.
O ministro declarou que, a partir da Constituição de 1988, passou-se de uma “igualização estática, meramente negativa” para uma “igualização eficaz, dinâmica, já que os verbos ‘construir’, ‘garantir’, ‘erradicar’ e ‘promover’ implicam mudança de óptica, ao denotar ‘ação'”. Portanto, prossegue, “não basta não discriminar. É preciso viabilizar — e a Carta da República oferece base para fazê-lo — as mesmas oportunidades (…). A postura deve ser, acima de tudo, afirmativa” (destaques da autora).
O julgador advertiu que “descabe supor o extraordinário, a fraude, a má-fé, buscando-se deslegitimar a política“, haja vista que outros conceitos utilizados pela Constituição também permitem certa abertura (hipossuficientes, portadores de necessidades especiais, microempresas) sem que isso impeça a implementação de benefícios a estes grupos (destaques da autora). E concluiu que só existe a supremacia da Constituição Federal quando, à luz desse diploma, vigorar a igualdade.
Trata-se de importante lembrete, visto que estamos às vésperas de 2022, ano em que deverá acontecer, por força de lei (artigo 7º da Lei 12.711/2012 — Lei de Cotas) a revisão do programa especial para o acesso às instituições de educação superior de estudantes pretos, pardos e indígenas e de pessoas com deficiência, bem como daqueles que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas.
Dados revelam que a experiência não apenas foi bem sucedida, como deveria ser mantida até que se verifique nos bancos das universidades a mesma proporção populacional de pretos, pardos e indígenas.
Já as cotas no serviço público federal, defendidas pelo Ministro Marco Aurélio em 2001, foram positivadas via Lei 12.990/2014, que estabeleceu reserva de 20% das vagas para negros em concursos públicos de cargos na administração pública federal. A matéria foi levada ao STF para exame de constitucionalidade através da ADC 41/DF, de relatoria do ministro Luis Roberto Barroso, cujo voto foi integralmente acompanhado pelo vice-decano.
Em 2015, baseando-se nos dados do primeiro censo do Judiciário, que apontou menos de 2% de magistrados pretos e 14% de pardos, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução 203/2015, reservando 20% de vagas para os negros no âmbito daquele poder.
A quase um ano de sua aposentadoria, que ocorrerá em 2021, o ministro deixa um legado de intensa contribuição nas mais diversas áreas do Direito, escrevendo uma biografia de forte apelo aos direitos humanos e às garantias individuais. Seus julgados destacam o respeito à independência dos poderes e a aplicação da Constituição Federal alicerçada nos princípios que a norteiam.
Em meio a “tempos estranhos”, convém lembrar seu ensinamento de que, nestas horas, “impõe-se observar princípios, impõe-se a resistência democrática, a resistência republicana”, porque, como diz o ministro, “na vida, não há espaço para arrependimento, para acomodação, para o misoneísmo, que é a aversão, sem se querer perceber a origem, a tudo que é novo”.
Como se recorda nesta data, por certo que os votos do Ministro Marco Aurélio, vencidos ou não, deixarão saudosos todos aqueles que almejam e contribuem para construção de um Poder Judiciário garantista e livre de preconceitos.
Camila Torres Cesar é advogada criminalista, membro da Comissão de Igualdade Racial da OAB-SP e mestranda em Direito Político e Econômico pelo Mackenzie-SP.





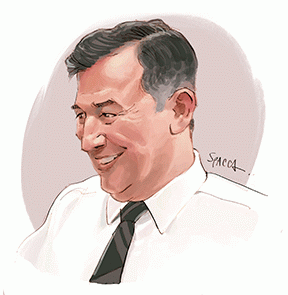
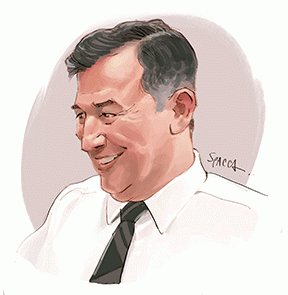 Na entrada da sala que toma quase todo um andar de um prédio comercial na região dos Jardins, zona nobre da capital paulista, um senhor portando cuia de chimarrão e trajando máscara azul foi a senha para a reportagem da ConJur reconhecê-lo. “O doutor [Daiello] não tem uma [máscara] colorada?”
Na entrada da sala que toma quase todo um andar de um prédio comercial na região dos Jardins, zona nobre da capital paulista, um senhor portando cuia de chimarrão e trajando máscara azul foi a senha para a reportagem da ConJur reconhecê-lo. “O doutor [Daiello] não tem uma [máscara] colorada?”
 Há duas partes relativamente distintas nesse belíssimo livro. Na primeira parte, o narrador relata que o jovem Isaías decide tentar a vida no Rio de Janeiro, descreve a viagem, os primeiros dias (cheios de dificuldades), alcançando o momento no qual começa a trabalhar no jornal. O tema do racismo parece ser o ponto mais forte nessa primeira sessão. Na segunda parte, o narrador descreve a vida de Isaías na redação. Cuida-se, nesse passo, de uma fortíssima crítica à imprensa brasileira da época. Pode-se pensar que se tratam de dois livros. Há, no entanto, um ponto em comum que salta aos olhos do leitor atento: Lima Barreto está em todo lugar.
Há duas partes relativamente distintas nesse belíssimo livro. Na primeira parte, o narrador relata que o jovem Isaías decide tentar a vida no Rio de Janeiro, descreve a viagem, os primeiros dias (cheios de dificuldades), alcançando o momento no qual começa a trabalhar no jornal. O tema do racismo parece ser o ponto mais forte nessa primeira sessão. Na segunda parte, o narrador descreve a vida de Isaías na redação. Cuida-se, nesse passo, de uma fortíssima crítica à imprensa brasileira da época. Pode-se pensar que se tratam de dois livros. Há, no entanto, um ponto em comum que salta aos olhos do leitor atento: Lima Barreto está em todo lugar. 


 Cumpre-nos, portanto, desvendar essa questão, precisamente perguntas como quem deve ser o guardião da Constituição? E quais são os limites da jurisdição constitucional em um Estado democrático de Direito?
Cumpre-nos, portanto, desvendar essa questão, precisamente perguntas como quem deve ser o guardião da Constituição? E quais são os limites da jurisdição constitucional em um Estado democrático de Direito?