O porto-alegrense Leandro Daiello Coimbra, 54 anos, raramente dá entrevista. Depois de quatro adiamentos, finalmente recebeu a ConJur na tarde do último dia 3, no escritório de seu novo trabalho depois que se aposentou na Polícia Federal, na área de compliance e investigação empresarial no escritório Warde Advocacia.
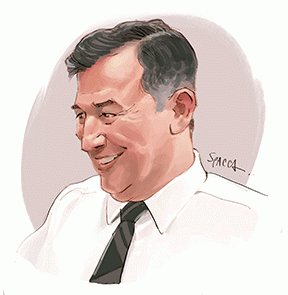 Na entrada da sala que toma quase todo um andar de um prédio comercial na região dos Jardins, zona nobre da capital paulista, um senhor portando cuia de chimarrão e trajando máscara azul foi a senha para a reportagem da ConJur reconhecê-lo. “O doutor [Daiello] não tem uma [máscara] colorada?”
Na entrada da sala que toma quase todo um andar de um prédio comercial na região dos Jardins, zona nobre da capital paulista, um senhor portando cuia de chimarrão e trajando máscara azul foi a senha para a reportagem da ConJur reconhecê-lo. “O doutor [Daiello] não tem uma [máscara] colorada?”
“Bah, tchê, se usar uma do Inter, não entro em casa”, respondeu o agora sorridente gremista, já sem o aparato de prevenção à Covid-19, mas mantendo distanciamento seguro em tempos de epidemia.
O mais longevo diretor da Polícia Federal desde a redemocratização, empossado em 14 de janeiro de 2011, função que exerceu até 8 de novembro de 2017, já no governo do presidente Michel Temer, Daiello confessou que sua nomeação era inesperada.
“Estava nomeado para ser adido da PF em Roma. Minha mulher falando italiano, meu cachorro com chip para ir embora. O Cardozo nunca me contou porque me convidou.”
Segundo José Eduardo Cardozo, ministro da Justiça do governo da presidente Dilma Rousseff (2011-2016), “Leandro tinha feito um excelente trabalho à frente da Polícia Federal em São Paulo, e seu nome era muito bem referenciado por advogados, membros do Ministério Público e juízes”. “Fiz duas entrevistas e fiquei muito bem impressionado”, disse à ConJur.
Durante a conversa, o delegado da PF por mais de 22 anos, sendo superintendente em São Paulo antes de ir para Brasília, graduado em Direito pela PUC-RS e com MBA em Gestão de Segurança Pública pela FGV, lembrou dos desafios à frente da instituição, dos segredos da longevidade na função, das divisões internas, das interferências do Executivo e dos vazamentos.
“Acho que a polícia tem que ser indicada pelo chefe do executivo. Ele tem representatividade. O presidente expôs as suas ideias e foi eleito. Quando ele assume a presidência, é para impor as ideias que a maioria decidiu votando nele”, disse. Mas fez uma ressalva na aplicação da política de segurança pública: “É óbvio que, quando se fala em investigação, tem que ter autonomia. Isso é outra questão, senão é sabotar. Que é difícil. As pessoas misturam”.
Leia abaixo os principais trechos da entrevista:
ConJur — Qual foi maior desafio que o senhor encarou na administração da Polícia Federal?
Daiello — É uma boa pergunta, porque o problema sempre parece maior quando você já superou e ficou para trás. O maior desafio era ter a obrigação de que a polícia continuasse trabalhando no ritmo que vinha, crescendo e amadurecendo cada vez mais, para ser uma polícia legalista e republicana.
ConJur — Quais as razões podem explicar sua longevidade no comando da PF?
Daiello — Difícil avaliar o motivo da permanência. O que tenho imaginado é que a questão orçamentária passou por bons momentos e momentos difíceis, como o país teve, como o governo teve. A Polícia Federal acompanhava o seu orçamento de acordo com as dificuldades. Se aquele ano o orçamento era melhor, a gente fazia bons investimentos.
O que se trabalhava muito naquele período era preservar a parte operacional para que funcionasse sempre dentro do seu limite possível. A Polícia Federal é uma polícia de investigação e tem que investir em investigação. É óbvio que, para que isso aconteça, tenho que ter policiais preparados, estruturas preparadas, bons equipamentos.
Então o que nós trabalhávamos na questão orçamentária? Cuidando para ter um investimento para o futuro.
ConJur — Há várias PFs dentro da PF? É uma entidade marcada por divisões? É incontrolável?
Daiello — Ousaria discordar. Diria o seguinte: não é que a PF seja incontrolável, é muito dinâmica, cresceu e amadureceu nos últimos anos de uma maneira que conseguiu deixar claro que é uma polícia técnica, que se preparou para fazer um trabalho técnico e científico. Entendeu que o policial era a parte mais importante do funcionamento e recruta pessoas com muita qualidade. Isso faz com que as pessoas tenham opinião. Isso também faz com que a organização cresça e se desenvolva. Então eu não diria grupos, temos constantemente as pessoas buscando e trazendo ideias novas. Eu não consigo vislumbrar grupos dentro da Polícia Federal. Existem posições divergentes, que é o que faz a polícia andar e crescer.
ConJur — A entidade precisa de mais autonomia?
Daiello — Temos que dar alguns passos que preservam a autonomia da instituição. A orçamentária foi um bom primeiro passo. Uma autonomia para poder definir sobre concurso também é muito importante, para ter uma política de ingresso constante, de treinamento, de desenvolvimento e acompanhamento dos agentes. No entanto, quando se discute autonomia do policial na investigação, isso é básico. Deve ser definido como uma coisa indiscutível, sendo que esse policial tem um limite muito claro: a lei. O que vai limitar as ações do policial é a lei. Ele não vai fazer mais do que ele pode, do que a lei permite, nem menos do que a lei determina. E aí tu colocas o policial e a organização entre duas linhas, muito simples. O que a lei determina fazer e o que a lei determina não fazer. E aí eu faço uma polícia independente, autônoma e republicana. A polícia se torna forte no momento em que ela é legalista.
ConJur — O senhor concorda com o modo como a carreira do policial federal está estruturada?
Daiello — Acho interessante porque os resultados que a Polícia Federal atingiu nos últimos anos são impressionantemente bons. Não só no que se refere a operações, mas quanto à qualidade dessas investigações e quanto ao resultado dos seus inquéritos. Se discute muito um instrumento que é policial, mas as últimas estatísticas que eu acompanhei, o índice de esclarecimento, numa investigação, num inquérito policial dentro da PF, era um dos maiores do mundo. Então vejo que a estrutura está funcionando, é boa, e não faria nenhuma mudança radical. Alguma modernização na estrutura? Possível. Alguns cargos poderiam ter suas atribuições modernizadas? Sim, estamos vivendo uma era digital, uma outra realidade, e a organização vai se modernizando e seus cargos, suas atribuições, podem ser modificadas. Diria modernizadas.
ConJur — A pluralidade dentro da corporação é boa, mas também pode ser um fator negativo e de desgaste quando você é o gestor dessas pessoas com visões de mundo diferentes. Como era no seu tempo? O que o senhor fez para fazer desse ambiente plural também produtivo? O senhor teve muito problema com oposição interna?
Daiello — Eu realmente não consigo identificar grupos, identifico ideias diferentes e propostas e diretrizes para o futuro da polícia diferentes. Isso não é dividir a polícia em grupos, é pensar num futuro diferente. Não necessariamente que a tua ideia seja melhor. E essa é a grandeza de poder administrar como equipe. Administrava 27 superintendentes e sete diretores. Um grupo que está ouvindo, que está se renovando. A Polícia Federal se renova muito rápido, tem sempre gente nova. Isso é muito bom, porque ela é sempre moderna. Imagina se a Polícia Federal não aceitasse opiniões novas. Se tornaria uma polícia velha e antiquada. Ela é rápida e dinâmica. A PF, de certa maneira, consegue ouvir as novidades do efetivo e vai andando para frente.
ConJur — Interferência, o senhor sofreu alguma no seu período? Como lidava?
Daiello — O que a gente precisa entender: a estrutura da organização foi construída para que trabalhasse de maneira independente e, volto a dizer, não é trabalhar de maneira independente e cada um faz o que quer. É independente dentro de um padrão de regras, de leis, de manuais e tudo mais. A polícia analisou todos os seus procedimentos de investigação, de abordagem, de passaporte. Ela tem manual, tem ordem de serviço. Isso faz com que a pessoa tenha uma tranquilidade, que aqueles procedimentos já foram testados e têm bons resultados e a garantia de que nada de interferência vai acontecer naqueles procedimentos.
ConJur — Só que existiu barulho e pressão. Houve a “lava jato”…
Daiello — O que uma organização no momento desse tem que fazer é tentar ser mais transparente possível. E como se faz isso? Se alguém apresenta alguma reclamação de um procedimento que eu acho que é indevido, a polícia tem que apurar o acontecido, esclarecer e deixar transparente. O que aconteceu foi isso. Acho que a polícia aprendeu e continua sendo transparente. Não estou falando que a operação vai deixar de ser sigilosa, mas ser transparente nos seus procedimentos, nos seus processos. Eu peço busca, faço busca. Essa transparência. E se houver algum questionamento sobre ter sido abusiva, vamos apurar se houve. Se houve, vamos proceder, se não, vamos entender aquela apuração com clareza.
ConJur — Algum grupo da Polícia Federal faz intercâmbio com departamentos de Justiça ou de polícia estrangeiros sem o diretor-geral ficar sabendo, é possível?
Daiello — O diretor-geral não vai saber exatamente as questões específicas de um caso. O que ele faz? Define os modelos, os padrões, os manuais e as prioridades. Isso parametriza a tua relação. Então quando a gente fala de relação com outros países, com outras polícias, não há hoje como fazer o enfrentamento do crime organizado, num porte mais elevado, sem a relação com as polícias da América do Sul, da Europa. Não existe essa possibilidade. O dinheiro hoje se movimenta no mundo de maneira digital, não precisa mais enfrentar uma fronteira. Então é necessário ter essa capacidade de se relacionar com ingleses, franceses, italianos, alemães. Ou seja, onde houver interesse da organização em investigação da Polícia Federal no enfrentamento, ela deverá sim ter essa capacidade operacional. Diria que, pelo que conheço dos diretores-gerais que me sucederam e o atual diretor-geral [Rolando Alexandre de Souza], que a diretriz de manter a relação com as polícias do mundo e essa capacidade operacional vão continuar.
ConJur — As operações da PF se tornaram até mote de filme e tem se caracterizado já há algum tempo por nomes criativos e muita divulgação. O senhor acha isso positivo?
Daiello — Tem dois momentos aí muito preocupantes. O momento em que a Polícia Federal é acusada de espetacularização, que vem logo após ser acusada de ser uma caixa preta e não contar o que está acontecendo. Então no momento que todos falam que a Polícia Federal é uma caixa preta, que não se sabe de nada do que acontece lá, e depois dizer que vive dando espetáculo. No período em que eu estive como diretor-geral, a gente tentava equilibrar uma maneira de prestar contas à comunidade, de não esconder informações de operações e não expor as pessoas. Entretanto, a legislação mudou e a própria imprensa começa a ter acesso aos dados da operação antes. Então os nomes já eram conhecidos na imprensa mesmo antes da PF fazer a entrevista coletiva. E as coletivas passam a servir para esclarecimento, não mais para prestar as informações. O jornalista antes estava curioso para saber o que era. Agora ele já estava preparado para fazer perguntas mais profundas porque já tinha informação.
ConJur — E isso dentro do ponto de vista do trabalho da PF é positivo?
Daiello — Acho que ainda precisa melhorar. E os colegas que ainda se encontram na polícia precisam avaliar quais são os procedimentos que devem ser adequados para essa nova realidade. O mundo é dinâmico e a polícia deve se adequar rapidamente.
ConJur — Caso não houvesse tanta divulgação, a PF teria tanta força para fazer o trabalho que fez na “lava jato”?
Daiello — A PF se preparou como uma polícia de investigação. Digo isso com muita tranquilidade. Tive oportunidade de conviver com várias polícias do mundo, e ela é uma polícia muito bem preparada. Tem uma capacidade operacional de investigação que chama atenção até de outros países. Então, dentro desse aspecto, acho que sim. E acho mais. A maturidade do efetivo sabe da sua missão, dentro do espaço da lei. O que é obrigado a fazer e o que não pode fazer. Dá tranquilidade. O policial não tem escolha se vai investigar ou não. Ele tem que investigar.
ConJur — Não houve um período em que a PF focou só em investigar políticos?
Daiello — No meu período, as estatísticas na apreensão de drogas e no enfrentamento de grandes organizações na questão do tráfico internacional aumentavam anualmente. A diferença é que uma operação contra o tráfico já não tinha tanta mídia quanto uma operação de enfrentamento da corrupção. A percepção de que a parte segunda estava trabalhando sozinha é muito para fora. Dentro das estatísticas e dos acompanhamentos que a administração fazia, a questão do enfrentamento do tráfico de drogas continuava crescente.
ConJur — No meio desse barulho provocado pela “lava jato”, a PF acabou pegando uma fama de ser uma instituição cheia de vazamentos.
Daiello — Posso dizer com muita tranquilidade que toda vez que se suscitava da possibilidade de ter ocorrido um vazamento, era instaurado um procedimento e que, quase a totalidade deles nós concluímos que aquela informação tinha saído depois do encerramento do sigilo do processo. Ou seja, a notícia tinha saído 1 ou 2 horas depois de ter sido encerrado o sigilo do procedimento. Logo não há o que se falar em vazamento porque não é um procedimento mais sigiloso. Mas o que nós fazíamos na época para deixar as coisas muito transparentes era, havendo dúvida, instaurava-se um procedimento para esclarecer.
ConJur — Um dos efeitos colaterais da notoriedade pública é que as pessoas acabam se deixando levar e avançando em certos limites. Na sua época vocês se preocupavam em blindar os agentes disso?
Daiello — Foi construída dentro da Polícia Federal uma política de comunicação social. Era uma maneira de tentar dar uma mensagem para a sociedade de que estávamos trabalhando e que éramos uma polícia transparente. Quem faz o trabalho é a Polícia Federal. Não existe investigação de um homem só. Não existe uma operação que não tenha uma grande equipe, que trabalhou por muito tempo e com muita dedicação. E, via de regra, os grandes policiais são os anônimos. Aquele cara que não aparece justamente porque a operação ocupa demais.
ConJur — A ideia de mandato seria interessante para o cargo de diretor-geral?
Daiello — É e eu cheguei a discutir com os colegas de administração sobre isso. Éramos muito simpáticos à questão do mandato. Só discutíamos como seria o processo de escolha do diretor-geral. E isso realmente não se conseguiu ter uma maturidade na época para se fazer uma proposta.
ConJur — O diretor da PF ser indicado pelo presidente é o modelo ideal?
Daiello — Ainda acho que a polícia tem que ser indicada pelo chefe do executivo. Ele tem representatividade. O presidente expôs as suas ideias e foi eleito. Quando ele assume a presidência, é para impor as ideias que a maioria decidiu votando nele.
ConJur — Inclusive uma política de segurança pública?
Daiello — Inclusive. Então a polícia tem que estar vinculada a isso. É óbvio que, quando se fala em investigação, tem que ter autonomia. Isso é outra questão, senão é sabotar. Que é difícil. As pessoas misturam.
ConJur — O senhor mencionou várias vezes que a Polícia Federal é uma instituição dinâmica. Ela está preparada para lidar com um desafio como o das fake news?
Daiello — É claro que é difícil eu responder agora, não me encontro mais na direção, mas conhecendo a organização, tenho certeza de que existem grupos de estudos, que existem policiais se preparando. Tenho certeza que a Polícia Federal já tem contato com outros países para ver se tem alguma solução, alguma sugestão. Porque nós podemos perceber que esse não é um problema do Brasil. É do mundo. E o mundo procura uma maneira de achar uma solução para isso sem criminalizar tudo, sem censurar.
ConJur — Ainda sobre fake news. Como funciona a dinâmica de um inquérito como o instaurado pelo STF?
Daiello — O ministro pede para a polícia fazer um levantamento de tal objeto. A polícia faz um relatório e devolve, ponto. Como vale nos outros inquéritos. O Supremo faz os inquéritos do foro privilegiado. Via de regra alguns ministros definem diligências assim também. Outros a gente propõe e ele defere. Lembrando que as investigações de foro privilegiado são investigações judiciais, não investigações administrativas. É sempre bom não misturar isso.
ConJur — Dados mostram que a polícia mata muito no Brasil, a PF sabidamente participa muito pouco de confronto e não entra nessa estatística. Em algum momento o país deveria ter tentado desmilitarizar a polícia?
Daiello — Acho que não tem que discutir se é militar ou não, se usa farda. O que nós temos que discutir é a formação do policial. Nós temos que formar bem, temos que fazer com que a sociedade perceba que aquele personagem está ali para trabalhar, que é parte daquela comunidade, que está se defendendo ao proteger a comunidade. Agora, é formação, é investimento. Você não forma um policial na academia. Esse é o primeiro passo da formação. Tem que estar constantemente sendo formado e sendo trabalhado.
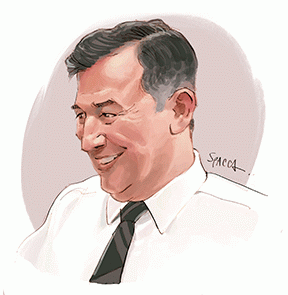

 Mas o trabalho de Cardozo rendeu a cassação de
Mas o trabalho de Cardozo rendeu a cassação de 


 Inegavelmente a recente situação mundial de pandemia causada pelo coronavírus (Covid-19) está impactando diversos setores da sociedade, demandando a criação de planos emergenciais tanto pelo setor público quanto pelo setor privado, no plano nacional e internacional.
Inegavelmente a recente situação mundial de pandemia causada pelo coronavírus (Covid-19) está impactando diversos setores da sociedade, demandando a criação de planos emergenciais tanto pelo setor público quanto pelo setor privado, no plano nacional e internacional.






