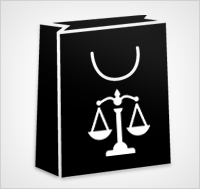A epidemia do coronavírus levou para os tribunais de todo o país a preocupação com o contágio e a necessidade de adotar medidas para enfrentar a calamidade. Nos tribunais superiores, para além das sessões virtuais e videoconferências, uma das consequências do respeito ao isolamento social foi a diminuição de despesas.

Sem deixar de lado a prestação jurisdicional e podendo ser visto até mesmo um aumento de produtividade em função do home office, os tribunais de Brasília já contam com projeções de redução de gastos. A situação em cada um deles é distinta: alguns rescindiram contratos, outros os adequaram, e outros não tiveram racionamentos de água e energia elétrica.
O impulsionador da maioria das medidas, inclusive da suspensão de atividades presenciais nas instalações do Judiciário, foi o Conselho Nacional de Justiça. Desde março, o conselho vem editando resoluções e atos normativos para balizar como deve ser a atuação dos tribunais.
A partir da entrada em vigor da Resolução 313, por exemplo, os avanços puderam ser vistos em números. Foram produzidas 4.930.897 sentenças e acórdãos, incluídas sentenças de primeiro grau, decisões terminativas e acórdãos de segundo grau nos tribunais.
Além disso, segundo o CNJ, foram expedidos 12,5 milhões despachos e 7,7 milhões de decisões tomadas em processos em curso.
Mas não só. Entre 16 de março e 31 de maio, o Judiciário destinou mais de R$ 340 milhões ao combate à epidemia da Covid-19. Em Brasília, os tribunais superiores conseguiram também, direta ou indiretamente, reduzir os gastos nas instalações.
Veja abaixo o que fez cada tribunal:
STF
O Supremo Tribunal Federal suspendeu suas atividades presenciais em março. Dentre as mudanças adotadas, a corte ampliou as hipóteses de julgamento em sessão virtual, inclusive para permitir sustentações orais no ambiente eletrônico e julgamentos de recursos com repercussão geral. Fica a cargo do relator ou ministro vistor a submissão dos casos em listas de processo em ambiente presencial ou eletrônico.

Rosinei Coutinho/SCO/STF
A praxe desde então é que apenas o presidente, ministro Dias Toffoli, e alguns assistentes estejam no Plenário físico. Os demais ministros participam da sessão de seus respectivos gabinetes e escritórios. Como exceção, o ministro Gilmar Mendes também foi ao físico em algumas sessões. Em breve momento à frente da corte por motivo de licença médica de Toffoli, o ministro Luiz Fux, vice-presidente, seguiu o costume e também esteve em Brasília para os julgamentos.
O tribunal informou ter disponibilizado as condições necessárias para que os funcionários façam trabalho remoto. Os contratos com serviços essenciais estão sendo feitos presencialmente, em alguns casos com revezamento. O STF também está apresentando proposta para antecipação de férias para casos em que houver impossibilidade de trabalho à distância, para os funcionários que se enquadram no grupo de risco e aos que estão fazendo revezamento.
Além disso, são várias as projeções de redução de despesas administrativas neste ano com diárias nacionais e internacionais; passagens aéreas; água e esgoto; energia elétrica e serviços postais.

STJ
Inicialmente o Superior Tribunal de Justiça cancelou as sessões presenciais e suspendeu os prazos. Em março, o Plenário da corte fez uma alteração no regimento interno para ampliar a realização das sessões virtuais.
Até então, o regimento previa o uso desta tecnologia para os colegiados que julgam matéria de Direito Público (1ª Seção, 1ª e 2ª Turmas) e Direito Privado (2ª Seção, 3ª e 4ª Turmas), além da Corte Especial. Com a ampliação, os colegiados que decidem matéria criminal também passaram a ter a possibilidade (3ª Seção, 5ª e 6ª Turmas).

Outra mudança significativa foi a possibilidade de ministros poderem se opor à videoconferência. Um exemplo é a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, que decidiu retirar de pauta sete temas em recursos repetitivos.
A oposição ao julgamento virtual também pode partir das partes: se qualquer das partes se opõe ao julgamento por videoconferência, cabe ao colegiado do Superior Tribunal de Justiça automaticamente remeter o caso para julgamento em sessão presencial, quando elas voltarem a ocorrer. A medida, no entanto, não é válida em caso de voto-vista.
Já em relação ao orçamento, o tribunal informou que não houve rescisão contratual ou racionamentos de água e energia. “Como a parcela mais significativa da força de trabalho desta corte está executando suas atividades de forma remota, as reduções de despesas com esses itens decorrem da minimização da população fixa e flutuante das dependências do Tribunal.”
TST
O Tribunal Superior do Trabalho adotou o trabalho à distância para a maioria dos servidores, mantendo apenas o mínimo indispensável nas instalações para cumprir as atividades essenciais. Ficaram suspensos também o acesso aos fóruns e tribunais.
Até o momento, a economia de recursos orçamentários está estimada da seguinte forma:
- De pessoal: redução de despesas com adicional e auxílios — Valor mensal de R$ 84 mil;
- De custeio em geral: R$ 350 mil mensal com água e energia elétrica e R$ 500 mil mensal com despesas com contratos de terceirização de serviços.
Com a suspensão do contrato de alguns dos estagiários, que não tinham condições de fazer o teletrabalho, houve economia de R$ 65,5 mil.
Depois do agravamento da epidemia, a corte trabalhista também rescindiu contrato com uma empresa terceirizada que prestava serviços de berçário, diante da “impossibilidade de continuar os serviços”. Neste caso, também foi considerada a falta de previsão para retornar as atividades, “dada a característica especialíssima do objeto em questão, que é o cuidado com bebês de 6 a 18 meses”, informou o TST.
Já os prestadores de serviço presenciais puderam tirar férias, fizeram acordos de compensação de jornada, banco de horas e escalas de rodízio.

Divulgação TST
O TST também editou diversos atos para regulamentar as atividades administrativas e judiciárias, contemplando as formas de prestação dos serviços remotas e presenciais. Houve ainda investimento em tecnologia para manter os julgamentos e o trabalho à distância.
Dentre as medidas do contingenciamento do tribunal foi definido um cronograma para a retomada das audiências telepresenciais, de forma a garantir que juízes e servidores busquem se familiarizar com as ferramentas eletrônicas. Também foi recomendado que os centros de conciliação continuem as atividades com uso da tecnologia e passem a admitir a mediação pré-processual para conflitos individuais.
TSE
Na Justiça Eleitoral os ministros também fazem as sessões de julgamento à distância, com presença no Plenário físico apenas do presidente. Grande exemplo foi a posse do ministro Luís Roberto Barroso como presidente do tribunal em cerimônia virtual, que contou com a participação de diversas autoridades.

Roberto Jayme/Ascom/TSE
De acordo com o tribunal, houve diminuição do pagamento do auxílio transporte com a realização de trabalho remoto. E também a diminuição do pagamento de indenização de férias, considerando casos de servidores que decidiram remarcá-las.
Ainda não há uma avaliação exata do impacto financeiro, mas o TSE informou que “há uma redução de despesas, tais como com água, energia elétrica, ar condicionado, materiais de limpeza, entre outras”.
Também foi editada a Resolução 23.615/2020, que estabeleceu o regime de plantão extraordinário para uniformizar o funcionamento dos serviços judiciários com objetivo de prevenir o contágio pelo coronavírus e garantir o acesso à justiça.
No início do plantão, o TSE observou que houve interrupção temporária de pedidos de reembolsos, pela necessidade de adaptação dos órgãos aos efeitos do trabalho remoto. “No entanto, tais situações em geral rapidamente voltaram a normalidade, podendo existir, no entanto, orientações específicas determinadas pelas Administrações dos Tribunais Eleitorais durante esse período”, informou a corte.
Outro ponto destacado na Justiça Eleitoral foi a diminuição de procura por serviços médicos em hospitais, devido ao risco de contágio, e a consequente redução das demandas por reembolsos ou similares.

STM
Na Corte militar não houve rescisão de contratos. Os contratos vigentes foram mantidos com ajustes dos custos, “adequando às alterações recentes da legislação, em função da epidemia”.
Dentre as medidas de proteção e contenção de propagação do coronavírus, o presidente do STM tornou obrigatório o uso de máscaras e álcool em gel nas dependências do tribunal e das auditorias. Além disso, estabeleceu o trabalho remoto para o maior número de servidores e colaboradores possível.
O STM informou que só foram mantidos em atividade presencial os servidores envolvidos diretamente no enfrentamento da epidemia e na manutenção dos serviços considerados essenciais. Também não houve racionamento de água e de energia, mas foi registrada a redução no consumo dos dois.


 Dados e estatísticas nos mostram como ainda estamos longe de uma resolução do problema, mesmo após a promulgação da Constituição Cidadã. Ainda que devidamente reconhecendo que a legislação brasileira, ao longo dos anos, tentou tratar do racismo e da tutela de vidas negras, produzindo leis históricas como a do Ventre Livre (1871), a Lei Áurea (1888), a Lei 7.716/1989 (ou Lei Caó, que definiu os crimes de raça ou cor), assim como também os artigos da própria Constituição que objetivam a promoção da igualdade racial (artigo 3º, IV). Mas ainda há de ser criada uma norma própria para o racismo praticado na internet.
Dados e estatísticas nos mostram como ainda estamos longe de uma resolução do problema, mesmo após a promulgação da Constituição Cidadã. Ainda que devidamente reconhecendo que a legislação brasileira, ao longo dos anos, tentou tratar do racismo e da tutela de vidas negras, produzindo leis históricas como a do Ventre Livre (1871), a Lei Áurea (1888), a Lei 7.716/1989 (ou Lei Caó, que definiu os crimes de raça ou cor), assim como também os artigos da própria Constituição que objetivam a promoção da igualdade racial (artigo 3º, IV). Mas ainda há de ser criada uma norma própria para o racismo praticado na internet.