A pandemia de Covid 19, além de acarretar o colapso nos sistemas de saúde de diversos países, tem trazido diversos efeitos colaterais derivados da crise econômica a ela associada. No Brasil, infelizmente, a situação não é distinta e já mergulhamos em recessão econômica, com o consequente incremento do já alto índice de desemprego[1].
![]() O cenário tende, inexoravelmente, a deteriorar ou — em um número cada vez mais intenso de casos — inviabilizar a capacidade dos consumidores quitarem as suas dívidas em razão da perda de renda ocasionará por um evento absolutamente imprevisível. E se o consumo das famílias é responsável por 65% do PIB da economia brasileira[2] (algo em torno de 4,5 trilhões de reais!),[3] é preciso agir rápido para assegurar um mercado de consumo saudável no pós-pandemia causada pela Covid-19.[4]
O cenário tende, inexoravelmente, a deteriorar ou — em um número cada vez mais intenso de casos — inviabilizar a capacidade dos consumidores quitarem as suas dívidas em razão da perda de renda ocasionará por um evento absolutamente imprevisível. E se o consumo das famílias é responsável por 65% do PIB da economia brasileira[2] (algo em torno de 4,5 trilhões de reais!),[3] é preciso agir rápido para assegurar um mercado de consumo saudável no pós-pandemia causada pela Covid-19.[4]
A realidade é ainda mais dramática ao se verificar que o endividamento das famílias brasileiras já vinha experimentando uma efetiva ascensão e alcançou o recorde histórico ao atingir o percentual de 66,6% em abril de 2020, segundo a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), elaborada pela Confederação Nacional do Comércio. O nível de inadimplemento por seu turno alcançou o patamar de 25,9%, o mesmo de março do corrente ano, mas superior ao de abril de 2019, que foi de 23,3%.[5] Antes da Pandemia causada pela Covid-19, o Idec estimava que destes, cerca de 30 milhões de pessoas seriam superendividados.[6]
Ademais há tendência de aumento do nível de endividamento, pois uma das medidas tomadas foi justamente o aumento da liquidez dos bancos para que fosse possível aumentar empréstimos e conceder suspensões temporárias de pagamentos de determinados contratos de mútuos[7]. Segundo o Instituto ‘Locomotiva’, 91 milhões de brasileiros deixaram de pagar pelo menos uma conta em abril de 2020.[8]
Os “acidentes de vida” mais comuns que motivam o superendividamento são doenças, redução de renda e desemprego[9]. A atual crise combina as duas causas e assim há a potencialização do risco de que haja um substancial aumento do superendividamento, principalmente tendo em vista que a crise econômica tende a ser mais duradoura do que a crise sanitária[10].
Portanto, o país tem que estar preparado para lidar com o aumento do superendividamento. E infelizmente não está, ao contrário do que ocorre com os Estados Unidos[11] e a Europa[12] – justamente as duas regiões mais afetadas pelo Coronavírus.
A necessidade de lidar com os efeitos do superendividamento não reverte exclusivamente em benefício do consumidor. Muito pelo contrário, os credores também são beneficiados se a lei for bem concebida. Sem a lei — e o consequente plano de pagamento dos débitos — há o sério risco de diversos credores (os com menores garantias) ou até mesmo a totalidade deles (tendo em vista que muitas vezes são credores sem garantia) nada receberem.
Ademais, restrições acessórias possuem um efeito devastador para a retomada da viabilidade econômica do consumidor. Pensemos na principal delas, a inscrição em cadastros de proteção ao crédito. A negativação importa em dificuldades efetivas para conseguir um emprego (já que normalmente as empresas consultam os cadastros antes da contratação e nada indica, muito pelo contrário, que deixarão de dar preferência a contratação de pessoas não negativadas.
A medida em que o consumidor não consegue o emprego, aumenta exponencialmente a dificuldade não apenas de quitação da dívida (o que se tornará absolutamente improvável), como de consumo até mesmo do mínimo existencial.
Assim o superendividamento afeta não apenas o consumidor e sua família, com fortes privações do mínimo existencial e abalos morais e psicológicos, mas também aos credores e a economia como um todo, pois o aumento do patamar de consumo é essencial para a retomada da economia, o que é impossível para o superendividado.
Há ainda o aspecto preventivo absolutamente essencial para os tempos atuais. O aumento de liquidez induz agressividade das instituições financeiras na oferta de novos empréstimos e novos produtos e, assim, a ampliação da educação para o consumo e de regras de vedação de publicidade e oferta enganosa são essenciais para evitar acesso insustentável ao crédito, que por ser concedido a quem não necessitaria ou não teria condições de adquirir novo crédito, acaba redundando em superendividamento[13].
Ainda que haja algumas normas esparsas, acórdãos de tribunais superiores[14] e iniciativas de programas de tratamento de superendividamento[15] há intensa necessidade de uma norma sistematizadora, sendo a atualização do Código de Defesa do Consumidor, por intermédio do Projeto de Lei nº 3515/2015 o veículo ideal para tal desiderato.
Podemos dividir em três âmbitos a proteção efetivada no âmbito do Projeto de Lei nº 3515/2015: normas de natureza preventiva, repressiva e de tratamento. Assim são vacina (prevenção) e tratamento/remédio (repressiva e de cura) do superendividamento do consumidor pessoa física, excluídos das possibilidades da falência e recuperação extrajudicial. As normas do PL 3515,2015 forma inspiradas no modelo francês de conciliação em bloco do consumidor com todos seus credores e a elaboração de um plano de pagamento, não havendo no caso brasileiro, perdão de dívidas, mas sim um plano compulsório para os que não conciliarem.[16]
No âmbito preventivo destacamos as normas do PL 3515,2015 que ampliam a educação para o consumo consciente e que aprofundam a exemplificação a informação a ser prestada pelas instituições para a concessão de crédito responsável, sempre pautados pela preservação do mínimo existencial. [17]
Destacamos, inclusive a expressa previsão da obediência ao princípio da boa-fé no conceito de superendividamento, que, seguindo exemplos de direito comparado[18] e adaptando-os à realidade nacional, é definido da seguinte forma pelo Projeto de Lei nº 3515/2015: “a impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação (art. 54-A, § 1º)”. [19]
Claudia Lima Marques é professora titular de Direito Internacional Privado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), doutora pela Universidade de Heidelberg (Alemanha) e mestre em Direito (L.L.M.) pela Universidade de Tübingen (Alemanha). É presidente do Comitê de Proteção Internacional dos Consumidores e da International Law Association (Londres). Ex-presidente do Brasilcon e da Asadip (Paraguai).
Roberto Castellanos Pfeiffer é professor da USP, procurador do Estado de São Paulo e ex-Presidente do Brasilcon — Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor (Brasília)
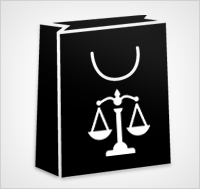

 A Justiça do Trabalho retoma sua centralidade como destino final de questões diversificadas de Direito, economia e sociedade, cuja diversificação, entre tantos e inúmeros pedidos, buscam revisar acordos e obrigações, ao passo que também eclodem pedidos de continuação e andamento processual através das ferramentas eletrônicas. Esses aspectos reportam, obrigatoriamente, a um dos pontos mais característicos do processo do trabalho, que é a proximidade com as partes em litígio através de audiências e conciliações presenciais. O cenário apresenta universo novo, abrangente e de múltiplas questões, porém algumas delas precisam de reflexão mais apurada na busca de uma construção de sentido, merecendo especial foco, neste debate, os atos de instrução por meio da tecnologia e de plataformas digitais.
A Justiça do Trabalho retoma sua centralidade como destino final de questões diversificadas de Direito, economia e sociedade, cuja diversificação, entre tantos e inúmeros pedidos, buscam revisar acordos e obrigações, ao passo que também eclodem pedidos de continuação e andamento processual através das ferramentas eletrônicas. Esses aspectos reportam, obrigatoriamente, a um dos pontos mais característicos do processo do trabalho, que é a proximidade com as partes em litígio através de audiências e conciliações presenciais. O cenário apresenta universo novo, abrangente e de múltiplas questões, porém algumas delas precisam de reflexão mais apurada na busca de uma construção de sentido, merecendo especial foco, neste debate, os atos de instrução por meio da tecnologia e de plataformas digitais.