![]() 1. Introdução
1. Introdução
Na última quarta-feira, o Presidente da República sancionou o PL 1.179/2020 que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado no período da pandemia da Covid-19 (RJET). Contudo, a sanção veio acompanhada de veto do Presidente a diversos dispositivos do projeto, entre os quais está o art. 9º, que veda, temporariamente, a concessão de despejo liminar em contratos de locação urbana.
O caput do citado dispositivo estabelece que “não se concederá liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo, a que se refere o art. 59, § 1º, incisos I, II, V, VII, VIII e IX, da Lei n. 8.245, de 18 de outubro de 1991, até 30 de outubro de 2020”. De acordo com o parágrafo único do artigo, a restrição do caput “aplica-se apenas às ações ajuizadas a partir de 20 de março de 2020”.
Embora a suspensão prevista no art. 9º do PL refira-se a seis hipóteses legais de despejo, as razões do veto cuidaram somente da principal delas. Trata-se daquela prevista no art. 59, § 1º, inc. IX, da Lei n. 8.245/91, segundo o qual “conceder–se–á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: […] IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo” (destaque nosso).
Para poder analisar criticamente o veto em cotejo com as razões apresentadas pelo Presidente, convém contextualizar brevemente a situação atual de tutela dos interesses do locador inadimplido na Lei de Locações.
2. Tutela do locador inadimplido na Lei de Locações
O referido inciso IX do art. 59, § 1º, da Lei de Locações de Imóveis Urbanos foi incluído pela Lei n. 12.112/2009. Sua ausência no texto original da Lei n. 8.245/91 teria sido um “cochilo do legislador”, pois a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação seria “o motivo mais imperioso para a desocupação imediata do imóvel, superando a urgência dos demais incisos”.
Portanto, antes da alteração, o locador inadimplido dispunha apenas da possibilidade de execução provisória da sentença de despejo. Isso porque, nos procedimentos regidos pela Lei n. 8.245/91, os recursos interpostos contra as sentenças têm efeito somente devolutivo (art. 58, inc. V), de sorte que eventual apelação do locatário não procrastina a retomada do bem. Entretanto, a redação original do art. 64 da Lei n. 8.245/91 exigia a prestação de caução como condição para a execução provisória do despejo, no que a Lei n. 12.112/2009 novamente melhorou situação do locador inadimplido. Com efeito, ela alterou a redação do caput do art. 64 da Lei n. 8.245/91 para dispensar a caução também na hipótese de desfazimento da locação “em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos” (art. 9º, inc. III).
Destarte, atualmente o locador desfruta de uma posição privilegiada do ponto de vista da exequibilidade da ordem de despejo. Ao contrário do CPC, que, como regra, atribui efeito suspensivo à apelação (art. 1.012) e exige contracautela para a prática de diversos atos praticados durante a execução provisória (art. 520, inc. IV), a Lei n. 8.245/91, além de prever o despejo liminar (art. 59, § 1º), possibilita a imediata execução da ordem já a partir da sentença e, para isso, sequer exige que o locador preste caução.
3. Razão do veto presidencial e análise crítica
Segundo a mensagem de veto, “a propositura legislativa […] contraria o interesse público por suspender um dos instrumentos de coerção ao pagamento das obrigações pactuadas na avença de locação (o despejo), por um prazo substancialmente longo”. Ainda de acordo com as razões do veto, o art. 9º do PL n. 1.179/2020 conferiria “proteção excessiva ao devedor em detrimento do credor, além de promover o incentivo ao inadimplemento”, desconsiderando, dessa forma, a “realidade de diversos locadores que dependem do recebimento de alugueis como forma complementar ou, até mesmo, exclusiva de renda para o sustento próprio”.
Entretanto, o dispositivo vetado não desconsidera o interesse patrimonial do locador. Além de não afetar a exigibilidade judicial do crédito deste, o art. 9º do PL n. 1.179/2020 não altera a regra da Lei n. 8.245/91 que permite a execução provisória da sentença independentemente de caução (art. 64). Apenas impede, temporariamente, uma medida legítima, porém extrema, sendo que essa solução transitória se justifica em relevantes razões de saúde pública. É nesse contexto que a relação processual é reequacionada em favor do locatário. Mas essa flexibilização da tutela em favor do devedor cessa com a prolação da sentença concessiva do despejo. Reconhecido judicialmente o direito do locador à desocupação do imóvel, a ordem de despejo passa a ser imediatamente executável, independentemente de caução.
Assim, não há de se falar em contrariedade ao interesse público. O art. 9º do PL n. 1.179/2020 não confere uma “proteção excessiva ao devedor”. Sequer é no interesse exclusivo dos locatários que se propõe a vedação transitória do despejo liminar, mas sim no da coletividade. Outrossim, o dispositivo não incentiva o inadimplemento, pois o locatário que descumprir as suas obrigações será fatalmente despejado após a sentença de procedência da ação de despejo, ainda que o locatário recorra da decisão. Em verdade, o art. 9º do PL n. 1.179/2020 promove um justo equilíbrio entre os interesses patrimoniais do locador, de um lado, e as razões de Saúde Pública, de outro.
É nesses termos que muitos julgados já vêm reconhecendo a necessidade de se obstar os despejos liminares durante a pandemia do coronavírus, como se verifica, especificamente, na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A título ilustrativo, a 33ª Câmara de Direito Privado da referida corte, com fundamento no artigo 5º da Resolução do Conselho Nacional de Justiça n. 313/2020 e no artigo 5º do Provimento do Conselho Superior da Magistratura do TJSP de n. 2550/2020, decidiu que “a pandemia de coronavírus tem evidentes reflexos sobre a saúde, e, sem dúvida, ter preservado o direito de moradia, agora, auxilia na prevenção do contágio, contribuindo para o cumprimento da recomendação de isolamento/distanciamento social”. Em sentido semelhante, a 29ª Câmara de Direito Privado do TJSP julgou “correta a determinação de suspensão da medida, por ora, em razão da situação extraordinária que todos vivem, diante da pandemia causada pelo COVID-19 no Brasil e no mundo, fato público e notório, com reconhecimento do estado de calamidade pública feita ao Congresso Nacional pela Presidência da República”. Segundo o acórdão, “a preservação da integridade física do oficial de justiça e [de] todos os que seriam envolvidos no cumprimento da ordem de despejo, se sobrepõe ao interesse da autora, justamente para evitar o contágio do COVID-19, o que não se pode permitir, diante da gravidade da pandemia”. Da mesma forma, recentemente a 36ª Câmara de Direito Privado da corte paulista, com fundamento no reconhecimento do estado de calamidade pública pelo Congresso Nacional (Decreto Legislativo 06/2020) e na decretação de quarentena no Estado de São Paulo (Decreto 64.881/2020), decidiu ser “cabível a suspensão da decisão que concedeu o despejo, uma vez que seu cumprimento, nas atuais circunstâncias, estaria em desconformidade com as medidas de saúde vigentes que indicam a necessidade de se reduzir a circulação de pessoas e a permanência no ambiente residencial”.
Nesse contexto, a aprovação do art. 9º do PL n. 1.179/2020 consolidaria, legislativamente, uma orientação jurisprudencial já existente. O dispositivo vetado apoia-se, pois, em razões de interesse social que estão sendo lamentavelmente desconsideradas no veto do Presidente da República, mas já reconhecidas em reiteradas decisões judiciais, como demonstram os julgados do TJSP acima citados.
Além disso, o veto também se esquece da possibilidade de o locador obter despejo liminar com fundamento no art. 300 do CPC, desde que, além da probabilidade do seu direito, comprove perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, o STJ já decidiu que a tutela provisória prevista no art. 59, § 1º, da Lei n. 8.245/91 é de evidência, de sorte que o dispositivo é compatível com a tutela provisória de urgência do então vigente art. 273, inc. I, do diploma processual civil revogado. Por isso, o art. 9º do Projeto de Lei não exclui a possibilidade de o juiz, excepcionalmente, conceder ordem de despejo liminar, desde que comprovado o risco à subsistência do locador nos termos do art. 300 do vigente CPC. Consequentemente, também não assiste razão ao veto presidencial quando afirma que o PL desconsidera a realidade de diversos locadores cujo sustento depende do recebimento dos aluguéis. A situação particular desses locadores, desde que devidamente comprovada, pode ser resguardada mediante a concessão de tutela provisória de urgência prevista no art. 300 do CPC.
4. Conclusão
Em conclusão, espera-se que o Congresso Nacional, considerando a referida experiência jurisprudencial e a solução equilibrada do art. 9º do PL n. 1.179/2020 em face do contexto da pandemia do coronavírus, aprecie, com urgência, o veto do Presidente da República, para rejeitá-lo, nos termos do art. 66, § 4º, da Constituição Federal.
VENOSA, Silvio de Salvo. Lei do inquilinato comentada: doutrina e prática. 13 ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 303.
A redação original do art. 64, caput, da Lei n. 8.245/91 mencionava apenas os incs. I, II e IV do art. 9º: “Salvo nas hipóteses das ações fundadas nos incisos I, II e IV do art. 9°, a execução provisória do despejo dependerá de caução não inferior a doze meses e nem superior a dezoito meses do aluguel, atualizado até a data do depósito da caução”.
Mensagem de veto n. 331, de 10 de junho de 2020. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Msg/VEP/VEP-331.htm>.
TJSP, 33ª Câm. de Dir. Priv., Agravo de Instrumento nº 2066062-90.2020.8.26.0000, j. em 28/04/2020.
TJSP, 29ª Câm. de Dir. Priv., Agravo de Instrumento nº 2081160-18.2020.8.26.0000, j. em 12/05/2020.
TJSP, 36ª Cam. de Dir. Priv., Agravo de Instrumento nº 2102322-69.2020.8.26.0000, j. em 10/06/2020. No mesmo sentido dos julgados citados cf., dentre outros, TJSP, 30ª Câm. de Dir. Priv., Agravo de Instrumento nº 2104964-15.2020.8.26.0000, j. 28/05/2020; 32ª Câm. de Dir. Priv., Agravo de Instrumento nº 2104464-46.2020.8.26.0000, j. em 12/06/2020.
STJ, 4ª T., REsp 1207161/AL, j. em 08/02/2011, DJe 18/02/2011.
Guilherme Henrique Lima Reinig é professor adjunto da Universidade Federal de Santa Catarina, mestre e doutor em Direito Civil pela Universidade de São Paulo e membro da Rede de Pesquisa de Direito Civil Contemporâneo.
Daniel Amaral Carnaúba é professor adjunto da Universidade Federal de Juiz de Fora (campus Governador Valadares), doutor em Direito Civil pela Universidade de São Paulo, mestre em Direito Privado pela Université Panthéon-Sorbonne (Paris 1) e membro da Rede de Pesquisa de Direito Civil Contemporâneo.
Daniel Pires Novais Dias é professor de Direito Civil da FGV Direito Rio, doutor em Direito, com período de pesquisa na Ludwig-Maximilians-Universität München (2014-2015), e membro da Rede de Pesquisa de Direito Civil Contemporâneo. Foi pesquisador visitante na Harvard Law School (2016-2017) e no Instituto Max-Planck de Direito Comparado e Internacional Privado em Hamburgo, na Alemanha (2015).
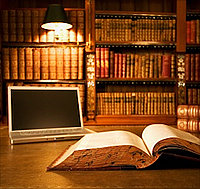






 Na medicina, obviamente, não seria diferente. São cada vez mais usuais consultas online pelo sistema de telemedicina, o que fez o Conselho Federal de Medicina regulamentar a prática por meio da Resolução nº 1.643 de 2002.
Na medicina, obviamente, não seria diferente. São cada vez mais usuais consultas online pelo sistema de telemedicina, o que fez o Conselho Federal de Medicina regulamentar a prática por meio da Resolução nº 1.643 de 2002.