 A discussão sobre a relação entre a economia e o direito não é nova. Qualquer saber (conjunto de saberes, de conhecimentos formalizados) não jurídico que influencie a formação de normas jurídicas e de decisões jurídicas desperta a atenção quando se quer discutir as fronteiras de uma teoria da argumentação e da operacionalidade do direito.
A discussão sobre a relação entre a economia e o direito não é nova. Qualquer saber (conjunto de saberes, de conhecimentos formalizados) não jurídico que influencie a formação de normas jurídicas e de decisões jurídicas desperta a atenção quando se quer discutir as fronteiras de uma teoria da argumentação e da operacionalidade do direito.
Existiria apenas uma economia científica a orientar o aprimoramento do direito?
Toda análise econômica do direito deveria estabelecer e defender normativamente finalidades (econômicas) apriorísticas tendo o direito como mero instrumento?
Acreditamos que não.
Seria possível defender o uso ainda mais intensivo de economia no direito (um even more economic approach) sem com isso aderir às fileiras daqueles que creem que exista uma análise econômica que seria a melhor e a mais bem testada metodologia jurídica?
E que o uso ainda mais intensivo da economia significaria usar seus instrumentos de forma menos eloquente e ideológica do que a mera defesa de pautas políticas e mais técnica, em reforço (e não superação) à aplicação do direito posto vigente, já que nosso país está marcado pelo direito legislado (estado democrático de direito e separação dos poderes)?
Acreditamos e defendemos que sim.
A economia, assim como o direito, é marcada por abordagens e opiniões distintas. Inocente daquele que acha que a mera citação de um estudo econômico atribuirá ao seu estudo um caráter empírico.
Defendemos, entretanto, a importância do uso de abordagens econômicas para múltiplas situações de interesse jurídico. Porém, como a alusão a um termo como o da “análise econômica do direito” desperta paixões – daqueles que não a suportam e daqueles que pretendem ser seus representantes comerciais exclusivos, ciumentos e raivosos em redes sociais – bem vale uma digressão[1].
Levando em conta que tanto o direito quanto a economia buscam descrever vários fatos sociais (relações intersubjetivas e suas consequências) em comum (com maior ou menor abstração) a partir de vocabulários específicos e próprios e a partir de abordagens distintas, seria de se esperar que suas perspectivas pudessem ser úteis para uma compreensão mais ampla no âmbito restrito de cada campo.
Avançando em uma direção que seja mais profunda ou pretensiosa do que a mera pesquisa de contextos gerais (econômicos) para a compreensão de um determinado tipo de problema legal, há inúmeros exemplos históricos de análise econômica do direito, ou seja, professores dedicados a estudar os dois saberes de forma conjunta. Se adotarmos um sentido bem amplo de análise econômica do direito, podemos citar o primeiro grande movimento americano de law and economics do final do século XIX[2], algumas das escolas marxistas de direito e o ordoliberalismo alemão[3].
Mas o fato é que quando se menciona a expressão Análise Econômica do Direito (AED) ou Law and Economics (L&E) busca-se referir a um determinado método de estudo jurídico construído após o esforço inicial de alguns economistas e juristas que se valeram de técnicas econômicas neoclássicas para estudar assuntos jurídicos a partir de construtos derivados da teoria dos preços. Alguns temas já estavam bem próximos da preocupação econômica, como o direito concorrencial, regulatório e comercial; outros, contudo, pareciam mais distantes, como a responsabilidade civil, contratos, direito de família e direito processual. A origem desse movimento é identificada com o trabalho de Ronald Coase, a partir do ensaio “The Problem of Social Cost”[4] e pelos estudos de Calabresi, e ganhou projeção com a pesquisa realizada na Universidade de Chicago[5].
Antes desses esforços, pode-se dizer que os estudos que utilizavam a economia para a compreensão do direito estavam restritos à obtenção de determinados objetivos econômicos por meio de regras jurídicas (regulação). Após o advento desses novos construtos, o direito passa a ser analisado como importante instituição (na guinada da economia para o estudo das instituições)[6]. Uma forte reação acadêmica não demora a se fazer presente, já que essa abordagem passa a concorrer com outras ciências sociais aplicadas. Convém ressaltar, contudo, que o alvo de boa parte das críticas não é redirecionada àqueles primeiros estudos de Coase ou Calabresi, mas aos textos que se seguiram, notadamente o clássico Economic Analysis of Law, de Richard Posner, publicado em 1973, e isso porque a proposta passa a ser a de usar a economia como forma de aprimorar e influenciar a formação do direito, a partir da perseguição da eficiência econômica ou maximização de riqueza, o que corresponde a usar o direito como instrumento de atingimento de certas finalidades preestabelecidas[7].
Em linguagem direta, a análise econômica do direito tradicional (AED), ligada à Escola de Chicago[8], apresenta-se como teoria normativa a partir da eleição apriorística de uma finalidade (eficiência econômica em seu sentido bem específico, e poucas vezes compreendido, da Escola de Chicago)[9] a ser atingida pelo direito.
Nos Estados Unidos, o advento e posterior domínio dessa metodologia deve ser bem compreendido em suas especificidades, tais como: (i) a política econômica americana (advento do neoliberalismo, crise fiscal, inflação e ascensão ameaçadora da indústria japonesa), (ii) a metodologia americana (e seu certo apreço a abordagens instrumentais do direito – realismo e social science-oriented approach, p.e.) e (iii) um sistema jurídico típico de um commom law, em que o construtivismo jurisprudencial possui maior espaço.
A análise econômica do direito em sentido estrito seria, portanto, uma teoria orientada pela eficiência econômica lastreada no Ótimo de Pareto[10]. Nesse sentido, a interpretação do direito deveria buscar a eficiência econômica típica dos neoclássicos, ainda que isso, metodologicamente, esteja em colisão com as características tipicamente valorativas de algum direito concretamente referido (se pensarmos naqueles que defendem a transposição direta daquele método a outros países, incluindo os que possuem uma ordem econômica constitucional positivada, como o Brasil).
Em termos mais simples, a análise econômica do direito – em seu sentido mais tradicional – prega a utilização de técnicas de estudo das consequências econômicas das decisões jurídicas, sempre em termos de eficiência alocativa. O próprio fundamento do direito seria a economia em seu viés neoclássico, tendo como pressuposto a não intervenção estatal (sempre mais defendida do que adotada, já o sabemos) e a eleição da previsibilidade dos mercados como algo superior a outros argumentos (como os fundamentos e garantias constitucionais)[11]. Trata-se, portanto, de uma teoria normativa, ou seja, comprometida em afirmar como deve ser a aplicação do direito.
Ainda assim, não podemos reduzir a importância de uma análise econômica do direito a determinados expedientes típicos do pensamento norte-americano republicano do final do século XX, cujo argumento da eficiência econômica como elemento normativo e teleológico possuía uma finalidade prática e política nítida, de retomada do neoliberalismo do governo Reagan (“government was the problem and not the solution”) após o predomínio de décadas do pensamento keynesiano.
O uso de instrumentos analíticos econômicos pode ser extremamente importante – e essa é a nossa pauta – para o direito, de forma que evitaremos, aqui, as típicas bravatas metodológicas dos defensores de formas tradicionais de análise econômica em nosso país (aquelas referências mercadológicas do tipo: “a melhor metodologia jurídica”, “a mais testada” etc). Tampouco daremos atenção às provocações de seus defensores de que os juristas não devem ter medo de economia e que o direito deve ser aplicado de forma eficiente (?!), típicas das introduções de livros coletivos ou dos textos de alguns de seus autores.
Ao invés defender o uso do instrumental e do vocabulário econômico para influenciar como os aplicadores do direito deveriam julgar casos (complexos ou não) ou que tipo de ajuda a teoria dos jogos pode dar a quem se depara com possíveis sentidos possíveis da norma, chamarei a atenção para vários exemplos imprescindíveis da economia para a compreensão de desafios jurídicos.
Naquilo que nos interessa mais diretamente, a saber, o direito econômico, financeiro e tributário, o uso de instrumental econômico pode ser interessante, sobretudo em abordagens lege ferenda e na revisão de determinadas políticas econômicas concretas.
No âmbito tributário, salta aos olhos a necessidade de estudos econômicos que determinem os potenciais efeitos de um projeto de reforma tributária sobre a economia e sobre específicos setores. Quantas abordagens de matriz insumo-produto poderiam ser evocadas para, ao menos tentar, simular certos efeitos de uma determinada reforma sobre o mercado, a partir de análises de interdependência entre os setores (consistente em um sistema de equações lineares a representar a distribuição da produção de um setor em relação aos demais, na forma de insumos e demanda final, englobando o consumo das famílias, do governo, da formação bruta de capital fixo e das exportações). Seriam elas determinantes? Certamente, não. Basta ver os estudos que foram produzidos antes da transição para a não-cumulatividade do PIS e COFINS. Mas, os elementos oriundos de tais estudos podem fornecer subsídios ao legislador e à sociedade antes de uma reforma e podem ser preferíveis às intuições e armadilhas semânticas de qualquer sorte.
No âmbito da governança executiva das renúncias tributárias, o uso de abordagens econômicas como as da econometria pode ser rico em dar indícios do sucesso ou não de uma legislação já implementada. Basta citar os estudos formulados sobre a desoneração da folha de pagamento no âmbito acadêmico e no da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda, que subsidiaram a avaliação do gestor da política econômica e do próprio legislador.
A diferença básica, e podemos nos aprofundar nesses exemplos posteriormente nessa coluna – como já o fazemos em diversas palestras – é que, nesses casos, a economia ajuda na compreensão da legislação formulada ou a ser formulada, pode informar o legislador (eleito pelo povo brasileiro) e os juristas sobre potenciais ou prováveis efeitos decorrentes das medidas econômicas implementadas por meio de normas jurídicas (aquilo que outros chamam de políticas públicas).
Além disso, como ocorre com frequência no direito concorrencial da análise de concentrações econômicas, o uso mais intensivo da economia permite uma melhor instrução probatória para a devida aplicação do direito.
O que defendemos, contudo, é que esse instrumental econômico na aplicação do direito ao caso concreto faz parte do campo da teoria das provas e não o da decisão (fundamentação) jurídica, ou seja, a economia está ao lado da boa aplicação do direito vigente e não a serviço da construção de um novo sistema jurídico (contra legem, por exemplo). E essa parece ser uma diferença radical.
O uso mais intensivo de economia significa, como o entendemos, o manejo transparente de como os modelos são calibrados, como as variáveis de interesse serão analisadas, quais serão os grupos de controle utilizados nas comparações de cunho estatístico e assim por diante. Em termos ainda mais diretos: uma ciência riquíssima e sofisticada como a economia (e também a matemática) jamais serviria a propósitos pré-estabelecidos e de cunho partidário ou de abordagens limitadas ao curto prazo. Por certo, elas podem ser cooptadas, mas nunca a ciência como um todo, apenas alguns autores, certamente mais engajados e com interesses específicos, além dos cegos pela ingenuidade da paixão pelo saber alheio.
Essa tem sido, portanto, a nossa defesa normativa: o uso cada vez mais sofisticado da economia no direito para bem compreender (i) os efeitos da promulgação de certas leis, (ii) a avaliação dos resultados das leis que estão postas e (iii) as provas de convicção utilizadas na construção de argumentos de justificação de decisões jurídicas (norma individual e concreta). Tal uso deve ser acompanhado dos pressupostos e limitações metodológicos de cada modelo (construção de árvores de decisão, econométrico, matriz insumo-produto, equilíbrio geral computacional etc), o que, em geral, são bem conhecidos e apresentados pelos economistas proficientes, e pouco estudados pelo idólatras adventícios do direito, que buscam construir um modelo metodológico genérico, que vê, na teoria dos jogos, um exemplo de livro de autoajuda a ensinar como bem decidir no caso de dúvidas.
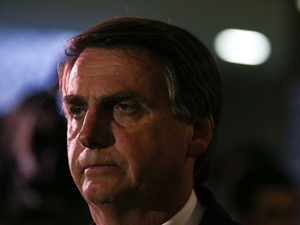 A opinião é do jornal britânico Financial Times, em editorial publicado neste domingo (7/6). O jornal destaca que quem soou o alarme sobre o risco que Bolsonaro representa para a democracia foi o decano do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello.
A opinião é do jornal britânico Financial Times, em editorial publicado neste domingo (7/6). O jornal destaca que quem soou o alarme sobre o risco que Bolsonaro representa para a democracia foi o decano do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello. 

 A discussão sobre a relação entre a economia e o direito não é nova. Qualquer saber (conjunto de saberes, de conhecimentos formalizados) não jurídico que influencie a formação de normas jurídicas e de decisões jurídicas desperta a atenção quando se quer discutir as fronteiras de uma teoria da argumentação e da operacionalidade do direito.
A discussão sobre a relação entre a economia e o direito não é nova. Qualquer saber (conjunto de saberes, de conhecimentos formalizados) não jurídico que influencie a formação de normas jurídicas e de decisões jurídicas desperta a atenção quando se quer discutir as fronteiras de uma teoria da argumentação e da operacionalidade do direito.
 Safatle remete o leitor ao artigo 48 da Constituição de Weimar, e ao seguir no sentido do reforço das narrativas históricas daquelas mesmas pessoas que se voltaram contra a república alemã nos anos 30, chega a uma interpretação absurda do artigo 142 da Constituição brasileira.
Safatle remete o leitor ao artigo 48 da Constituição de Weimar, e ao seguir no sentido do reforço das narrativas históricas daquelas mesmas pessoas que se voltaram contra a república alemã nos anos 30, chega a uma interpretação absurda do artigo 142 da Constituição brasileira.