 O argumento de que o artigo 142 da Constituição permite uma intervenção militar voltou a ganhar força recentemente. O dispositivo estabelece que as Forças Armadas “destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem”. Em artigo publicado na ConJur, o jurista Ives Gandra da Silva Martins afirma que, em caso de conflito entre o Executivo e qualquer dos outros dois Poderes (Legislativo e Judiciário), em que haja invasão de atribuições, os líderes militares poderiam atuar como moderadores.
O argumento de que o artigo 142 da Constituição permite uma intervenção militar voltou a ganhar força recentemente. O dispositivo estabelece que as Forças Armadas “destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem”. Em artigo publicado na ConJur, o jurista Ives Gandra da Silva Martins afirma que, em caso de conflito entre o Executivo e qualquer dos outros dois Poderes (Legislativo e Judiciário), em que haja invasão de atribuições, os líderes militares poderiam atuar como moderadores.
Ex-ministro da Defesa — a quem Exército, Marinha e Aeronáutica estão subordinados — e da Segurança Pública no governo Michel Temer, Raul Jungmann rechaça essa interpretação. Ele lembra que cabe ao Judiciário, e não às Forças Armadas, atuar como moderador de conflitos entre Poderes.
“Em todo e qualquer conflito entre Poderes, a última palavra, constitucionalmente, é do Judiciário. Não tem o menor cabimento essa interpretação. É um juízo enviesado, que presta um desserviço à democracia. Militares não podem agir autonomamente, eles têm que agir a pedido de algum dos Poderes. No caso de haver um conflito entre Poderes, entre um Poder chamar as Forças Armadas e o outro não chamar, a última instância que interpreta a Constituição é exatamente o STF. Por que existe a Justiça senão para dirimir conflitos?”, questiona, ressaltando que Exército, Marinha e Aeronáutica não embarcariam em um golpe, como tem sido aventado por alguns devido ao grande número de militares no governo Jair Bolsonaro.
Quando o Ministério da Segurança Pública foi criado, em fevereiro de 2018, a Polícia Federal passou a ser comandada pela pasta. Com base nessa experiência, Jungmann avalia que a corporação não se deixaria ser usada atender a objetivos pessoais de Bolsonaro. Ao deixar o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, Sergio Moro alegou que o presidente quis interferir na PF para proteger a sua família e aliados. A acusação é alvo de inquérito no Supremo Tribunal Federal.
A gestão de Moro na pasta teve pontos positivos, diz Jungmann. Porém, ele critica o abandono do Sistema Único de Segurança Pública e da linha de crédito para o financiamento de ações na área.
Em entrevista à ConJur por telefone, o ex-ministro também defendeu políticas sociais para reduzir a criminalidade, declarou que a flexibilização da posse e do porte de armas aumenta a violência e analisou o legado da intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro.
Leia a entrevista:
ConJur — O que o senhor pensa sobre a fusão do Ministério da Justiça com o Ministério da Segurança Pública, feita no governo Bolsonaro?
Raul Jungmann — Eu fiz um levantamento das sete Constituições brasileiras, da primeira, de 1824, até a última, de 1988. Em nenhuma delas o poder central, fosse no Império, fosse na República, assumiu competências constitucionais na área da segurança. Isso sempre foi atribuição das províncias, no passado, e dos estados, no presente. Então o Brasil nunca teve um sistema nacional de segurança pública, nunca teve uma política nacional de segurança pública. Isso causa espanto, porque a primeira coisa que ocorre à cabeça do interlocutor é “mas, escute, não tinha o plano isso, plano aquilo?”. Os planos, é bom lembrar, expressam a vontade do ministro. Se o ministro dura três anos, o plano dura três anos. Se ele dura três meses, o plano dura três meses. E, via de regra, a primeira coisa que o sucessor faz é lançar um plano também, e não dar continuidade ao plano que herdou. Mas como se pode combater crime organizado, milícias, drogas sem ter nem um sistema nacional, nem ter uma política nacional de segurança? Dou um exemplo. O Brasil, até hoje, não tem um sistema de informação e de dados confiável na área de segurança pública.
ConJur — Depende tudo dos estados, certo?
Raul Jungmann — Sim. Quando eu era deputado federal, tentei vincular o repasse dos recursos à informação dos estados do que acontecia com a segurança pública, para montar um painel federal. Isso nunca foi adiante, e os próprios estados bloquearam a iniciativa. Então o Brasil, no século XXI, não tem algo que outras nações têm desde o século XIX, o século XX. Nós não temos uma estrutura de dados. Agora, a pergunta que eu te faço: como é que se desenham políticas públicas sem ter informações de dados? Para você ter noção do que eu estou falando, quando nós estivemos 10 meses à frente do Ministério da Segurança Pública, nós conseguimos aprovar o Sistema Único de Segurança Pública (Susp), cobrindo essa falha de ter um sistema único que interligasse União, estados, polícias, Ministério Público, Judiciário, academia, ONGs, sociedade civil, Forças Armadas, todos, enfim, dentro do Conselho Nacional de Segurança Pública, e aprovamos uma política nacional de segurança pública. Porém, nem o Susp foi implantado de lá para cá, nem a política nacional de segurança pública, que poderia ser corrigida, revista, modificada.
E, que eu saiba, ao longo desses praticamente um ano e meio do atual governo, o Conselho Nacional de Segurança Pública reuniu-se apenas uma vez. E ele tem periodicidade, se não me engano, quadrimestral, para se reunir. Nós voltamos à estaca zero. Por isso é que eu defendo que a segurança pública tenha um ministério a ela dedicado. Até porque todas as áreas sociais da Constituição de 1988, cultura, educação, saúde, previdência, assistência social, esportes têm um órgão no mais alto nível da administração pública federal, para cuidar das suas questões. A segurança, que é uma das questões mais importantes para os brasileiros, não tem isso. Como também não teve ao longo do tempo.
ConJur — Como o senhor avalia a gestão de Sergio Moro no Ministério da Justiça e da Segurança Pública?
Raul Jungmann — Ele teve pouco tempo para poder entregar um programa de segurança pública. Ele teve algumas ações boas. Por exemplo, o projeto de segurança comunitária municipal, com cinco municípios. É uma boa iniciativa, mas ainda não passou para o teste de maior escala. A transferência de presidiários do Primeiro Comando da Capital (PCC), de facções criminosas, para presídios federais também uma boa iniciativa. Nós fizemos isso com vários deles. A terceira boa iniciativa foi a ampliação da apreensão de drogas pela Polícia Federal. Nós mesmos criamos a coordenação de combate ao crime organizado. Teve também a iniciativa do projeto anticrime, que tinha alguns problemas na proposta inicial, mas foi bem melhorado no Congresso Nacional.
Em contrapartida, o ministro não levou adiante a implantação do Susp, que tem pontos fundamentais. Sua curadoria permite avaliar o desempenho das seguranças: governo do estado, polícias, em nível nacional etc… Está tudo lá dentro. A segurança pública permanece como reino da obscuridade. Se você quiser saber do sistema de educação, você vai direto no sistema do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Se você quiser saber como está a saúde, tem o DataSUS informando tudo. E a segurança pública? Não tem dados checados. Nós também deixamos no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Bndes) um programa chamado Bndes Pró-Segurança, com R$ 40 bilhões para os estados financiarem a compra de veículos, equipamentos, armas. Esse programa também não foi adiante. Assim como foi contingenciado o programa Pró-qualidade, que usava 15% dos recursos da loteria esportiva que iriam para o fundo de segurança pública para capacitar policiais.
ConJur — O ministro Sergio Moro atribuiu a suas ações a redução de homicídios no Brasil em 2019. Ele está correto?
Raul Jungmann — Os homicídios começaram a cair em 2017, em junho, julho. Em 2018, houve uma queda mais acentuada, de 10%, depois de cinco anos de crescimento — fora uma pequena redução em 2015. E 2019 seguiu essa tendência. Em 2018, chamaram para mim o protagonismo [a queda dos homicídios], e eu sempre dizia “não, não pode ser”, porque o governo federal não cuida dos homicídios em geral. Quem cuida de homicídios é o Ministério Público estadual, as polícias estaduais. Então eu fui coadjuvante. Fizemos campanhas nacionais integradas com todas as polícias, de homicídios, feminicídios, pedofilia. Integramos centros de inteligência. Mas o protagonismo é dos estados. Então não se pode atribuir a queda dos homicídios ao governo federal.
Em 2017, 2018, sabendo que iam ser julgados pela população nas eleições pela sua política de segurança e combate à violência e homicídios, os governadores investiram em polícia, equipamentos, carros, produtividade. Mas agora acabou o fôlego fiscal, de investimento. Em janeiro deste ano, antes da epidemia, os índices de homicídio voltaram a subir. Aliás, a queda já vinha sendo desacelerada. Temos um crescimento de janeiro até agora de 11%, deixando absolutamente claro para quem quiser ver que a queda não ocorreu por um protagonismo do governo federal.
ConJur — Alguns pesquisadores argumentam que a queda nos homicídios se deve menos a investimentos estatais na segurança pública e mais a acordos entre facções criminosas. Concorda?
Raul Jungmann — Esse argumento ficou insuficiente para explicar a queda dos homicídios. Em 2017, realmente houve uma série de massacres causados brigas de facções. Mas aí parou. Parou e, mais adiante, os crimes começaram a cair. Este ano tivemos massacres, no ano passado tivemos massacres, e os crimes voltaram a subir. Simples assim. A questão dos massacres é uma contribuição marginal. Nós estamos falando de 50 mil mortes a 60 mil mortes. Nessas tragédias, morreram algumas centenas.
Depois argumentaram que mudaram as dinâmicas criminais. Disseram que tinha um crescimento menor da juventude e que isso impactava na juventude vulnerável. Que eu saiba, nada disso mudou. Então, caiu o número de homicídios, e hoje sobe. Por quê? Insisto: acabou o fôlego fiscal dos estados.
ConJur — Um problema antigo do Brasil é a baixíssima taxa de elucidação dos homicídios, que gira em torno de 8%. Como melhorar isso?
Raul Jungmann — Tem gente que fala em 8%, tem gente que fala em 20%, mas, de todo jeito, é um índice muito baixo. O ciclo de segurança começa em um programa de prevenção social voltado para a juventude vulnerável, a juventude de 15 a 24 anos, que morre em taxa bem acima da média, e uma parte dela também é violenta acima da média. A primeira coisa são esses jovens. Os “sem-sem”: sem escola, sem trabalho, família desestruturada, moram nas periferias das cidades, negros, pobres, com baixa escolaridade, de pouca renda. Esse é o perfil. Isso é importante porque, no sistema prisional, 55% dos nossos 852 mil apenados, segundo o Conselho Nacional de Justiça, são jovens. Está claro que um pedaço dessa juventude vulnerável é atraído pelo crime e vai parar no sistema prisional.
Então, há dois aspectos interditados, que não são incluídos no debate da segurança pública. O primeiro é o da vulnerabilidade da juventude. O segundo é o do sistema prisional. Nós temos a terceira maior população prisional do mundo, abaixo apenas dos Estados Unidos e da China, países com população bem maior do que a nossa. Temos 852 mil apenados. Segundo o Departamento Penitenciário Nacional, esse número vinha crescendo, quando eu estava no governo, a 8% ao ano. O que quer dizer que daqui uns três anos nós teremos algo como uma Porto Alegre dentro das prisões, 1,5 milhão de apenados. O sistema é absolutamente superlotado. Tem uma vaga para dois presos. Lá dentro estão majoritariamente jovens. Quase 60% dos presos foram condenados por furto, roubo, receptação e uso de drogas. Os homicídios respondem por 11%. E a quantidade de chefes de quadrilha, traficantes reais, é mínima. Ou seja, a gente prende muito e prende mal. E não há discussão sobre isso.
Acima de tudo, há 70 facções que controlam quase a totalidade dos 1.400 estabelecimentos prisionais do Brasil. E todas elas têm base prisional. Ou seja: surgiram dentro das prisões. Mas controlam a violência fora delas. Isso porque como as facções controlam o sistema prisional. O jovem que é preso com uma trouxa de maconha, uma pedra de crack, sem antecedente criminal, sem arma, quando é jogado na prisão, para sobreviver, tem que se filiar a uma dessas facções. Senão ele corre o risco de morrer. E a partir daí se torna um soldado. Então a gente chega a uma situação absolutamente paradoxal. Cada vez que tiramos um jovem das ruas, estamos ampliando o crime organizado, estamos servindo de recrutadores para o crime organizado. Mas não há debate ou projeto sobre isso. Porque tem uma população amedrontada, que quer que tire o bandido da rua e não quer saber o que acontece dentro da prisão. A discussão só se dá em um campo: na repressão. A discussão é toda centrada em mais força policial, leis mais duras, mais carros, mais armas. Não há dúvida de que tudo isso é importante. Mas se não trabalharmos a questão da juventude vulnerável, sobretudo em periferias, se não encararmos e fizermos uma reforma do sistema prisional, inclusive reduzindo o encarceramento, será como se você estiver em uma banheira que está transbordando, mas, em vez de fechar a torneira, você fica tirando água dela com um balde.
ConJur — Como o senhor avalia a intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro, em 2018?
Raul Jungmann — Ela foi positiva, dentro do possível. Em primeiro lugar, é preciso ter em mente que é que algo que durou 10, 11 meses. Medellín, que foi a cidade mais violenta do mundo em 1991, na época do cartel de Medellín, comandado por Pablo Escobar, chegou a ter 330, 350 mortes por 100 mil habitantes. O Brasil, até 2017, tinha 30 mortes por 100 mil habitantes. Passados todos esses anos, Medellín hoje tem uma média de 25 mortes por 100 mil habitantes. É uma queda brutal. Por quê? Porque houve política, continuidade de investimentos nas comunidades mais frágeis, todo um imenso programa de obras, de erguer a autoestima das comunidades, de trabalhar nas áreas mais violentas. Isso independentemente de quem estava no governo. Não seria possível fazer uma mudança dessas em 10 meses no Rio de Janeiro. A ideia foi fazer investimentos físicos, sobretudo em treinamento, capacitação, equipamentos, mas não houve tempo nem condições para reformar as políticas do Rio de Janeiro.
O Rio de Janeiro tem 830 comunidades sob controle de milicianos, crime organizado e tráfico de drogas. Ou seja, há mais ou menos 1,5 milhão de cariocas que vivem em um regime de exceção, sem direitos e garantias constitucionais. E existe hoje uma aliança, por assim dizer, entre crime organizado, uma parte da política e também outros agentes públicos, outras corporações. Como isso se deu? Se deu que a milícia que controla um território controla o voto. Ao controlar o voto, ela elege o seu representante como aliado. Nas negociações para obter uma coalização, o governador ou prefeito precisa fazer alianças, e esse aliado representante da milícia vai indicar pessoas para a máquina do governo, inclusive dentro da área da segurança pública. Isso é o que eu chamo de coração das trevas, de aliança satânica, que reúne uma parte da política, uma parte dos servidores públicos, inclusive na área de segurança, e o crime organizado. Então, no Rio de Janeiro, tem essa aliança satânica, e não houve tempo hábil para ela ser de fato enfrentada. É bom lembrar que isso existe em outros estados, mas em grau bem menor do que no Rio de Janeiro.
ConJur — A intervenção federal acabou em 31 de dezembro de 2018, e Wilson Witzel, ao assumir o governo do Rio, tomou medidas que contrariavam as implementadas no período. Entre elas, extinguiu a Secretaria de Segurança Pública e deu mais poder à Polícia Civil e à Polícia Militar, criando secretarias para cada uma delas. Com isso, as polícias deixaram de ser subordinadas a um secretário de Segurança. O governo Witzel desmantelou o legado da intervenção federal?
Raul Jungmann — Em primeiro lugar, a palavra de ordem nos setores policiais, aqui e mundo afora, são coordenação e integração. Desintegrar, separar, é realmente um contrassenso, vai na contramão de toda a teoria e prática no mundo. Isso [de dar mais poder às polícias] foi uma proposta que teve um cunho eleitoral em determinado momento, que agradou as corporações, que gostam de ter representação direta sem intermediação com um secretário. Veja que os próprios militares são subordinados ao Ministério da Defesa. É uma tendência mundial. Então, isso é evidentemente algo que não faz sentido.
Outra coisa: dar a, digamos, “licença para matar” às polícias. Nada corrompe moralmente mais uma polícia do que ela escolher quem vai ficar vivo e quem vai morrer. A letalidade policial no Rio de Janeiro alcança sobretudo os pequenos traficantes, os usuários etc. Os grandes criminosos, os grandes chefes de quadrilha, rarissimamente são alcançados pela mão da polícia. O que me preocupa muito, porque se uma polícia tem a liberdade de decidir quem vai viver e quem vai morrer, além de ser moralmente corrompida, pode ser realmente corrompida. O problema é ainda maior quando se alia isso à politização das polícias. Quando essa entra por uma porta, seja em uma corporação militar, seja uma corporação policial, a disciplina e hierarquia saem por outra. E esses são aspectos centrais, pois são órgãos que detêm o monopólio da violência legítima de Estado. Quando se faz isso, nivelam-se as polícias com as milícias. Isso porque elas deixam de exercer a violência legítima, ou seja, a violência regulada pela lei, e passam a exercer uma violência ao arbítrio daqueles que a promovem.
ConJur — Bolsonaro defende há tempos a ampliação das excludentes de ilicitude para policiais — a medida inclusive constava do texto inicial do projeto “anticrime”. Vários outros governadores seguiram mesma linha. Talvez o caso mais explícito seja o de Witzel, que defende que policiais atirem para matar em quem estiver portando fuzil. A carta branca para policiais matarem em serviço tem algum impacto na redução da criminalidade?
Raul Jungmann — A polícia tem que ter um protocolo de engajamento. Ou seja, tem que atuar, sobretudo, com cuidado com os danos colaterais da situação. Por exemplo, se está próxima de uma escola, se tem crianças, se tem pessoas da comunidade nas ruas, sobretudo dentro das favelas, há que se preservar a vida daqueles que não estão envolvidos na operação, por mais difícil que isso seja. É preciso saber exatamente a proporcionalidade do uso da força. Não observar isso é um total contrassenso. É aquilo que eu disse: a liberação do uso da força termina se voltando contra aqueles que são inocentes.
E isso também é moralmente péssimo para a força policial e a segurança. E também para que a comunidade se sinta segura, se sinta cuidada, porque no fundo, a principal tarefa da polícia não é matar, é proteger vidas. Então, é um contrassenso a proposta de ampliar a excludente de ilicitude, que já se encontra devidamente estabelecida pelo Código Penal, e também a de liberar uma atuação que não seja proporcional, que não tenha regras claras de engajamento e que proteja a vida daqueles que, afinal, não devem nada à Justiça.
ConJur — Frequentemente as Forças Armadas têm sido usadas em operações de garantia da lei e da ordem (GLO), não só na intervenção federal no Rio. Elas estão preparadas para atuar na segurança pública?
Raul Jungmann — Quando as Forças Armadas se envolvem em segurança pública, é sempre a pedido de governadores. Eu, durante 20 meses, fui ministro da Defesa e tive 11 operações de garantia da lei e da ordem. Salvo aquelas que não são relacionadas à segurança pública, mas a desastres, de Defesa Civil, promoção de grandes eventos, como Copa do Mundo e Olimpíadas, todas as demais foram solicitadas por governadores. Usualmente essa solicitação é porque houve uma greve de policiais, porque as forças policiais não estão disponíveis ou não eram suficientes para conter uma situação. E há uma população vulnerável, exposta ao crime organizado. Infelizmente, não tem como negar os pedidos. Então, todas as vezes que as Forças Armadas estiveram presentes foi para restaurar a ordem e para garantir a vida e a propriedade das pessoas.
Agora, elas têm treinamento, têm protocolos rígidos de atuação. Nessas 11 GLOs, que no total, envolveram 50, 60 mil militares, os incidentes foram raríssimos. O que é uma demonstração de que os militares têm preparo, têm disciplina e que eles nunca atuam solitariamente, estão sempre em grupos de quatro, de cinco, sob o comando de um sargento, de um tenente. As Forças Armadas, inclusive, não gostam de exercer esse papel. E elas correm risco quando vão exercer uma atividade como essa.
ConJur — Nove dos 22 ministros de Bolsonaro são militares. Além disso, militares da ativa ocupam 2,9 mil cargos no Executivo. Bolsonaro já afirmou que as Forças Armadas estão com ele. Esse movimento de colocar militares em seu governo é um ato de proteção de Bolsonaro? Acredita que ele possa dar um golpe? As Forças Armadas estariam dispostas a isso?
Raul Jungmann — Em primeiro lugar, Bolsonaro foi o que se chama de “deputado de nicho”. Ele tinha um nicho, que eram policiais e militares. Quando ele chega ao governo, para preencher os cargos no âmbito federal, ele praticamente não tem como usar os policiais. Porque o treinamento, capacitação, preparo dos policiais são voltados para o âmbito territorial do estado. Toda a formação dos policiais é para o plano estadual. Já os militares, não, eles são servidores públicos federais, e toda a formação deles é nacional por excelência. Ao longo de sua carreira, eles rodam o Brasil inteiro, vão para o exterior. Então, evidentemente que ele vai usar aqueles que são mais próximos, que são os militares.
Segundo lugar: não são três mil da ativa, são três mil da reserva [levantamento do jornal O Estado de S. Paulo aponta que são quase 3 mil militares da ativa no Executivo federal]. Mas isso não quer dizer que seja adequado. Pelo artigo 142 da Constituição, as Forças Armadas são instituições nacionais, permanentes, regulares. Portanto, instituições de Estado. No meu modo de entender, o militar da ativa não deve exercer cargos políticos. Eles têm funções diversas. Cabe uma regulamentação dessa participação dos militares da ativa. Isso não é discriminar os militares. Eles têm ótima formação, são honestos, são compromissados com o Brasil. Mas não se deve confundir governo e sua relação política com as missões de Estado que certas instituições, como as Forças Armadas, têm.
A questão que as pessoas sempre ficam perguntando: “Mas e os militares, eles vão dar um golpe?” A resposta é muito simples: não, não vão. O que está havendo é uma grande confusão. Há ministros políticos que foram generais, assim como há ministro político que foi médico, que foi engenheiro, advogado, qualquer profissão. Se um ministro que é médico fala, ninguém acha que ele está falando pela categoria médica. Se um ministro advogado fala, ninguém acha que ele está falando pelos advogados. Mas se um ministro que é general, que é militar, fala, acham que ele fala pela corporação. Engano. Uma fala de um Augusto Heleno [ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência], uma fala de um Luiz Eduardo Ramos [ministro da Secretaria de Governo], seja como for, não é da direção das Forças Armadas, eles não falam pelas Forças Armadas. E as Forças Armadas estão dentro das suas atribuições constitucionais, voltadas para a sua atividade, e não têm a menor disposição de participar de qualquer aventura ou desvio da Constituição e da democracia. Você não vê nenhum comandante militar tomando posição a esse respeito. Tampouco as Forças Armadas são do presidente Jair Bolsonaro, como não foram do presidente Lula, como não foram do presidente Fernando Henrique, do Collor, do Sarney, do Temer… Elas estão a serviço da Constituição, do Estado, e não de nenhum presidente.
ConJur — Nos últimos tempos, voltou a ganhar força a interpretação de que o artigo 142 da Constituição permite que as Forças Armadas intervenham para restaurar a “ordem democrática”. Segundo esse raciocínio, um dos Poderes, como o Executivo, poderia usar as Forças Armadas para reverter uma decisão inconstitucional tomada por outro poder, como o Supremo Tribunal Federal, órgão máximo do Judiciário. Esse uso das Forças Armadas é permitido pela Constituição?
Raul Jungmann — Olha, eu estou até espantado com esse tipo de interpretação. Outro dia, o Ives Gandra Martins deu uma interpretação semelhante. Em todo e qualquer conflito entre Poderes, a última palavra, constitucionalmente, é do Judiciário. Não tem o menor cabimento essa interpretação. Ela não resistiria a um exame, por exemplo, de quem cabe interpretar a Constituição, que é o Supremo Tribunal Federal. É um juízo enviesado, que presta um desserviço à democracia. Militares não podem agir autonomamente, eles têm que agir a pedido de algum dos Poderes. No caso de haver um conflito entre Poderes, entre um Poder chamar as Forças Armadas e o outro não chamar, a última instância que interpreta a Constituição é exatamente o STF. Por que existe a Justiça senão para dirimir conflitos?
ConJur — O governo Bolsonaro vem tomando várias medidas para flexibilizar a posse e o porte de armas. Essa é uma medida eficaz para se combater a criminalidade?
Raul Jungmann — Obviamente que não. Isso não é política de segurança pública. O próprio ex-ministro Moro disse, e todos sabem, que isso não faz qualquer sentido. Isso é uma posição ideológica do presidente, tudo bem, respeitamos. Mas é absolutamente claro: mais armas, mais mortes. As armas têm que ser reguladas e controladas fortemente pelo Poder Público, como, aliás, o Estatuto do Desarmamento prevê.
E é extremamente danosa, nociva, a ideia de armar o povo. Como eu disse anteriormente, o Estado se distingue pelo monopólio da violência legítima. Armar a população é desconstituir o monopólio da violência legítima, que é exercida pelas Forças Armadas e pelas polícias. Não faz nenhum sentido. E tampouco endosso essa flexibilização, porque ela é um fator de incremento da violência, e não o contrário. Aqueles que legitimamente têm direito de se armar, não há porque não conceder a posse e o porte a eles. Mas uma política de armamentismo, de elevar o número de armas, de munição, só conduz a mais violência e mais mortes.
ConJur — Sergio Moro deixou o governo Bolsonaro alegando que o presidente quis interferir na Polícia Federal para proteger a sua família e aliados. Como o senhor avalia a Polícia Federal no governo Bolsonaro?
Raul Jungmann — A Polícia Federal é uma das melhores polícias federais do mundo, formada por profissionais altamente qualificados, com um nível de eficácia muito grande. E eu não acredito que ela seja permeável a esse tipo de interferência. Não só no caso do presidente Bolsonaro, mas de qualquer outra autoridade ou da sociedade. Isso ficou claro ao longo da operação “lava jato”, em que ela cumpriu seu papel investigando grandes empresários e políticos do mais alto escalão. Pode-se discutir sobre o aspecto judicial, se foi ou se não foi, se houve excesso ou se não houve. Isso é uma outra questão. Mas a Polícia Federal tem formação, capacidade e uma cultura que não permitem a utilização política dela.
ConJur — Há quem defenda que o diretor-geral da PF seja escolhido a partir de uma lista tríplice feita pela corporação, nos moldes da escolha do procurador-geral da República. Essa seria uma boa medida para tornar a PF menos suscetível a interferências de presidentes?
Raul Jungmann — Eu defendo a autonomia da Polícia Federal. Defendo porque, hoje, essa autonomia vive de certa forma no limbo. Por que no limbo? Porque a Polícia Federal é a polícia judiciária da União, quando ela está funcionalmente subordinada não ao Executivo, mas ao Poder Judiciário. O Poder Executivo não tem, e não deve ter, qualquer influência na sua atividade. Ele deve ter controle administrativo, mas não daquilo que a PF está fazendo. E os controles sobre a Polícia Federal são fracos. O Ministério Público não tem pernas para cumprir isso efetivamente. Por isso mesmo, a PF deveria ter um diretor-geral com mandato fixo, sendo sabatinado pelo Senado. E seria positivo reformular as estruturas de controle e supervisão externas. Apoio propostas nesse sentido. Agora, eu não abraçaria essa forma de escolha a partir de três nomes vindos da corporação, porque isso muitas vezes descamba para o corporativismo.
ConJur — A Lei Anticrime, originada a partir de projeto de Moro, elevou a pena máxima de prisão no Brasil de 30 para 40 anos e aumentou as penas para alguns delitos. Penas mais altas ajudam a reduzir a criminalidade?
Raul Jungmann — Está provado que não. O que ajuda a reduzir a criminalidade de fato é a queda da impunidade. Se nós só elucidamos 8% ou 20% dos homicídios, evidentemente que isso é um incentivo positivo à continuidade da violência. O aumento na elucidação de crimes é um fator de desestímulo à violência e à criminalidade.
ConJur — Grande parte dos presos foi condenada por crimes relacionados ao tráfico de drogas. E muitos homicídios cometidos no Brasil se dão em conflitos entre facções de traficantes ou entre traficantes e policiais. A regulamentação ou legalização das drogas não ajudaria a diminuir os homicídios e a superlotação carcerária?
Raul Jungmann — A atual política de combate às drogas que nós temos não só é ineficiente como amplia essa situação que estamos vivendo. Quando se pega um moleque com uma trouxa de maconha, uma pedra de crack, sem armas, sem ter cometido crimes violentos, que não é reincidente, e o joga dentro de unidade prisional controlada pelo PCC, Comando Vermelho, simplesmente se cancelando a possibilidade de se resgatar esses jovens. Ao mesmo tempo, dentro do sistema prisional, cerca de 80% não tem atividades educacionais ou laborais. Então não se prepara esse jovem para a ressocialização, para que ele volte à vida social e para o mercado. Essa é uma política que não resolve.
Eu não discuto a questão da liberação porque, antes disso, é preciso que o STF defina o quanto de droga separa o traficante do usuário. Em outros países você tem uma quantidade estabelecida de algumas drogas. Abaixo de um nível, é usuário. Acima, ele é considerado traficante. Como isso não é claro no Brasil, fica, digamos assim, ao arbítrio do Poder Judiciário estabelecer penas que, em alguns casos, são exorbitantes.
ConJur — Durante a quarentena, os crimes contra o patrimônio tiveram grande queda. Por outro lado, os homicídios subiram em São Paulo, assim como mortes cometidas por policiais no Rio. Como enxerga o impacto da epidemia na criminalidade?
Raul Jungmann — Há uma mudança de padrão. Crescem os homicídios, a violência doméstica, os feminicídios. E caem os roubos, furtos, os crimes de rua, por assim dizer, porque também tem menos gente circulando. O que se pode fazer é uma reciclagem nos procedimentos, nas plataformas, nas estratégias das polícias para lidar com isso. É preciso ampliar as delegacias da mulher, treinar mais gente para trabalhar com violência doméstica. E investir para que policial na ponta tenha uma formação para ser gestor da segurança da sua área, e não necessariamente um mero executor de ordens e que vai produzir flagrantes. É necessário investir em inteligência. Inclusive com a articulação com outros países da América do Sul. Quatro países da América do Sul estão dentre os maiores produtores mundiais de drogas. Nós precisamos criar uma autoridade sul-americana de segurança, que articule as polícias, a inteligência, que tenha jurisdição internacional, como a Interpol e a Europol. Também é preciso proteger esses policiais. Eles têm que ter equipamentos de proteção individual e vagas nos hospitais a eles dedicados. Não devem ser expostos a riscos desnecessários.



 Como advogado no dia a dia e empresário nas minhas horas vagas, ressalto que jovens profissionais transitam bem na área do Direito Empresarial, sobretudo pelas ideias inovadoras e pela energia empregada no seu cotidiano de trabalho.
Como advogado no dia a dia e empresário nas minhas horas vagas, ressalto que jovens profissionais transitam bem na área do Direito Empresarial, sobretudo pelas ideias inovadoras e pela energia empregada no seu cotidiano de trabalho.
 O Brasil é signatário da Convenção das Nações Unidas Relativa ao Estatuto dos Refugiados, celebrada em 1951, conhecida como Convenção de Genebra de 1951, e, subsequentemente, editou a Lei nº 9.474, de 1997, que trata da matéria, que permite aos imigrantes que procuram abrigo em nosso país a possibilidade de formular solicitação de reconhecimento da condição de refugiado.
O Brasil é signatário da Convenção das Nações Unidas Relativa ao Estatuto dos Refugiados, celebrada em 1951, conhecida como Convenção de Genebra de 1951, e, subsequentemente, editou a Lei nº 9.474, de 1997, que trata da matéria, que permite aos imigrantes que procuram abrigo em nosso país a possibilidade de formular solicitação de reconhecimento da condição de refugiado. 


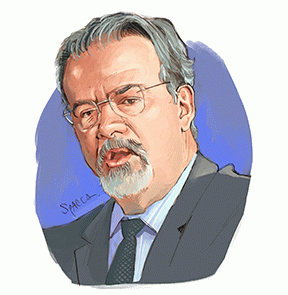
 O argumento de que o artigo 142 da Constituição permite uma intervenção militar voltou a ganhar força recentemente. O dispositivo estabelece que as Forças Armadas “destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem”. Em
O argumento de que o artigo 142 da Constituição permite uma intervenção militar voltou a ganhar força recentemente. O dispositivo estabelece que as Forças Armadas “destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem”. Em 
 Este, em síntese, o fundamento da 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ao
Este, em síntese, o fundamento da 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ao 
 Após o desligamento, decorrente da adesão ao PDV em 2014, o portuário ajuizou reclamação trabalhista para pleitear parcelas como diferenças salariais e horas extras. A ação foi extinta pelo juízo da 1ª Vara do Trabalho de Paranaguá, e a sentença foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (PR).
Após o desligamento, decorrente da adesão ao PDV em 2014, o portuário ajuizou reclamação trabalhista para pleitear parcelas como diferenças salariais e horas extras. A ação foi extinta pelo juízo da 1ª Vara do Trabalho de Paranaguá, e a sentença foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (PR). 
 O escritor fluminense Lima Barreto dedicou o romance Clara dos Anjos à memória de sua mãe, Amália Augusta. Neta de Maria Conceição, que nasceu na África e que chegou no Brasil em um navio negreiro. Amália foi criada e educada por uma família de proprietários rurais. Chegou a dirigir um colégio para moças no Rio de Janeiro. Amália faleceu em dezembro de 1887. Lima tinha seis anos. A ausência da mãe e uma melancolia decorrente da perda marcaram a personalidade do escritor. A avó paterna de Lima Barreto, Carlota Maria dos Anjos, foi escrava. Chegou ao Brasil a bordo de um navio negreiro.
O escritor fluminense Lima Barreto dedicou o romance Clara dos Anjos à memória de sua mãe, Amália Augusta. Neta de Maria Conceição, que nasceu na África e que chegou no Brasil em um navio negreiro. Amália foi criada e educada por uma família de proprietários rurais. Chegou a dirigir um colégio para moças no Rio de Janeiro. Amália faleceu em dezembro de 1887. Lima tinha seis anos. A ausência da mãe e uma melancolia decorrente da perda marcaram a personalidade do escritor. A avó paterna de Lima Barreto, Carlota Maria dos Anjos, foi escrava. Chegou ao Brasil a bordo de um navio negreiro.
 Na presente crise da pandemia da Covid-19, o papel de organização do processo econômico do direito econômico se torna evidentemente fundamental. Essa importância não se deve a uma situação que muitos equiparam, equivocadamente, à chamada “economia de guerra”. Afinal, a “economia de guerra” exige a mobilização total dos fatores de produção para o esforço de derrotar o inimigo.
Na presente crise da pandemia da Covid-19, o papel de organização do processo econômico do direito econômico se torna evidentemente fundamental. Essa importância não se deve a uma situação que muitos equiparam, equivocadamente, à chamada “economia de guerra”. Afinal, a “economia de guerra” exige a mobilização total dos fatores de produção para o esforço de derrotar o inimigo.