Em tempos de pandemia, tem proliferado o número de eventos e artigos ressaltando a importância da negociação e da renegociação de contratos, a relevância do uso de métodos consensuais para se buscar soluções mais adequadas para os conflitos que estão surgindo neste momento, entre várias iniciativas voluntárias de empresas e pessoas que oferecem alternativas para as situações atípicas e imprevisíveis que muitos estão tendo que enfrentar neste momento. Diante desse cenário, ressurge com força o debate acerca da mudança cultural que se torna ainda mais urgente em nosso país. Os movimentos nacionais pelo uso dos métodos consensuais de resolução de disputas, entre eles a conciliação e a mediação, já haviam recebido a adesão do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, entre vários outros órgãos. Porém, esse não é um debate que tem se efetivado da forma como deveria ser para, de fato, gerar os resultados qualitativos que a nossa sociedade tanto anseia.
 Inicialmente, cabe fazer uma viagem no tempo e relembrar a todos que esse movimento não é novo. Já fomos brindados na nossa história com normas que estabeleciam, inclusive, quase uma obrigatoriedade do uso de formas consensuais de resolução de conflitos como requisito preliminar para o exercício do tão amado e idolatrado, salve, salve, “direito de ação” Na época em que o Brasil ainda era colônia de Portugal, aplicavam-se em nosso país as chamadas Ordenações Filipinas de 1595, que, no Livro 3º, T. 20, §1º, faziam a seguinte previsão: “E no começo da demanda dirá o Juiz a ambas as partes, que antes que façam despezas, e se sigam entre elles os ódios e dissensões, se devem concordar, e não gastar suas fazendas por seguirem suas vontades, porque o vencimento da causa sempre he duvidoso (…)”. E mais. Ao se tornar um país independente, foi determinado na nossa primeira Constituição, em 1824, no seu artigo 161, que “sem se fazer constar, que se tem intentado o meio da reconciliação, não se começará Processo algum”.
Inicialmente, cabe fazer uma viagem no tempo e relembrar a todos que esse movimento não é novo. Já fomos brindados na nossa história com normas que estabeleciam, inclusive, quase uma obrigatoriedade do uso de formas consensuais de resolução de conflitos como requisito preliminar para o exercício do tão amado e idolatrado, salve, salve, “direito de ação” Na época em que o Brasil ainda era colônia de Portugal, aplicavam-se em nosso país as chamadas Ordenações Filipinas de 1595, que, no Livro 3º, T. 20, §1º, faziam a seguinte previsão: “E no começo da demanda dirá o Juiz a ambas as partes, que antes que façam despezas, e se sigam entre elles os ódios e dissensões, se devem concordar, e não gastar suas fazendas por seguirem suas vontades, porque o vencimento da causa sempre he duvidoso (…)”. E mais. Ao se tornar um país independente, foi determinado na nossa primeira Constituição, em 1824, no seu artigo 161, que “sem se fazer constar, que se tem intentado o meio da reconciliação, não se começará Processo algum”.
Porém, é importante compreender também algumas das razões pelas quais o uso e a indicação desses métodos ainda sofrem tanta resistência em nosso país. Primeiro, pelo fato de que essas normas acima transcritas parecem ter sido simplesmente ignoradas pela nossa sociedade. Em algum momento da evolução do Direito em nosso país, foi feita a opção (voluntária ou não) pela adesão ao princípio do “monopólio da jurisdição pelo Estado”. Decidimos, por alguma razão, elevar o “direito de ação” ao patamar de 11º mandamento divino e todos aqueles que levantassem suas vozes contra a divindade desse direito estariam condenados às chamas do inferno.
Dentro dessa lógica, ao trazer o tema para o debate social, todas as iniciativas e movimentos feitos por profissionais de excelência e que construíram a história desses institutos no Brasil, especialmente da mediação, não receberam o acolhimento amplo e efetivo da nossa sociedade, até que o próprio Estado tivesse decidido chamar para si essa tarefa. E, neste aspecto, talvez apenas neste, o movimento pela solução consensual dos conflitos encabeçado pelo Conselho Nacional de Justiça, e que se formalizou em 2010 com a Resolução nº 125, foi necessário para promover a tão esperada difusão dos institutos da conciliação e da mediação. Mas, de novo, não foi o CNJ e nem a Resolução nº 125 que iniciaram esse movimento.
Além do que estava disposto nas Ordenações Filipinas de 1595 e da Constituição de 1824, a tentativa de se estimular o uso de formas consensuais sempre fez parte da nossa legislação. E não se tratam apenas de resquícios históricos do nosso período colonial. Se avançarmos no tempo, basta analisar o conteúdo do preâmbulo da nossa atual Constituição de 1988, que afirma que a nossa sociedade está “fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias”. E essa lógica foi mantida em diversas leis que se seguiram no nosso país. Porém, sempre com o foco no uso desses métodos consensuais, especificamente a conciliação, dentro da estrutura disponibilizada pelo próprio Poder Judiciário. Assim, por exemplo, temos o texto do artigo 125 do Código de Processo Civil de 1973, que estabelece como dever do magistrado “tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes”. No mesmo sentido, vieram os Juizados de Pequenas Causas de 1984 e os Juizados Especiais em 1995, dando ênfase ao uso da conciliação, “sempre que possível”. Não é sequer necessário comentar aqui a baixa qualidade daquilo que se tem chamado de “conciliação” nesses ambientes judiciais.
Portanto, o que se percebe é que o nosso legislador já havia entendido que a conciliação e o uso de quaisquer formas de resolução de conflitos deveria ser estimulados, mas manteve sempre o foco no Poder Judiciário. E essa lógica foi replicada na estrutura proposta pelo CNJ na elaboração da sua tão festejada Resolução nº 125, em 2010. E seguiu no mesmo caminho o nosso Código de Processo Civil de 2015 ao incentivar o uso da mediação e da conciliação judiciais. A ordem era estimular as soluções amigáveis e a busca do consenso, mas sem abrir mão do controle e do poder de fiscalizar o que a sociedade está fazendo, do que está sendo negociado. Com isso, fortalecia-se a ideia do “monopólio da jurisdição pelo Estado”. Sequer a Lei Brasileira de Mediação, Lei nº 13.140 de 2015, conseguiu se afastar do Poder Judiciário, e viu-se também obrigada a tratar da “mediação judicial”.
Importante deixar claro que não há aqui um posicionamento contrário a qualquer iniciativa ou movimento que seja (ou tenha sido) feito pelo Poder Judiciário de também oferecer seu espaço para a realização de procedimentos consensuais de resolução de disputas. Isso é válido e, para muitos, algo necessário. Porém, ao longo da história, o Estado brasileiro, especialmente os Poderes Legislativo e Judiciário, tem constantemente perdido a oportunidade de estimular e permitir que os cidadãos assumam suas responsabilidades e chamem para si o dever e a obrigação de resolverem por si próprios os seus conflitos. A cultura paternalista e a ideia do Estado máximo continuam imperando em nosso país também nesse tema. Algo prejudicial para o desenvolvimento de uma sociedade adulta, responsável e senhora das suas escolhas. Aliás, para aqueles que realmente entendem de mediação, esses são pressupostos essenciais e que deveriam estar na base de qualquer forma de solução consensual de conflitos: empoderamento e responsabilização dos sujeitos.
Com isso, a realidade que se tem enfrentado na prática desses métodos é desestimulante. O Poder Judiciário não tem conseguido atender de forma adequada e satisfatória ao que está proposto nas normas indicadas. Apesar de bem redigidas, tanto a Resolução nº 125 de 2010 como o Código de Processo Civil de 2015 e também a Lei Brasileira de Mediação têm sido constantemente desconsideradas e desrespeitadas. Não se tem aplicado as regras ali previstas para uma efetiva capacitação de mediadores e conciliadores. Não têm tido os Tribunais de Justiça condições de estruturar com a qualidade necessária seus Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejuscs) de forma a atender a todas as comarcas do nosso país com a qualidade devida. Continuam até hoje os mediadores e conciliadores trabalhando sem receberem a devida remuneração e isso, inclusive, pelo fato de que o Poder Judiciário desrespeita a previsão legal de que os serviços prestados nos Cejuscs devem ser pagos pelas partes e a Justiça gratuita é algo excepcional. Magistrados têm constantemente ignorado as regras legais a respeito da realização e agendamento das tais “audiências de conciliação ou mediação” (nome este que, por si só, já mereceria um artigo inteiro, tamanha sua imprecisão). Enfim, são inúmeras as dificuldades enfrentadas.
Mas nada disso precisaria estar acontecendo se o Estado tivesse dado conta de confiar na sociedade e no cidadão brasileiro. Tudo poderia ser diferente se a mensagem passada pelos portugueses tivesse sido ouvida. Não se deve iniciar qualquer demanda judicial sem que todas as possibilidades de solução amigável tenham se esgotado. Algo que parece lógico para pessoas de bom senso, mas que não se aplica, por não termos aprendido a fazer dessa forma. Nossas faculdades de Direito replicam até hoje a cultura da sentença e do litígio, apesar de um lento e gradativo movimento de mudança. O nosso legislador e o nosso Poder Judiciário perderam e continuam perdendo oportunidades de estimular o uso desses métodos no ambiente privado, extrajudicial.
Seria tão mais positivo se as normas criadas pelo nosso legislador e pelo próprio CNJ tivessem seguido em outra direção. Os institutos da conciliação e da mediação talvez tivessem tido uma outra história se os usuários da Justiça tivessem sido estimulados a utilizar esses institutos fora do Judiciário, com mediadores e conciliadores devidamente preparados e capacitados, utilizando os serviços das melhores e mais qualificadas câmaras privadas de mediação e conciliação. Se tivéssemos seguido a mesma história e o mesmo caminho que a arbitragem seguiu após a Lei nº 9.307 de 1996, talvez tivéssemos conseguido resultados melhores, inclusive com a capacidade que esses métodos consensuais têm de atingir um número ainda maior de pessoas e conflitos.
Mas não é tarde. É possível repensar o nosso Direito. Partir para um sistema mais lógico e que estimule a própria sociedade a dar conta dos seus conflitos e se responsabilizar por eles. Muitos dirão que não temos maturidade para isso. Dirão que não fomos educados para ter essa liberdade. Mas não se está dizendo aqui que se trata de tarefa fácil. Educar demanda paciência e cuidado. Mudar uma cultura leva anos, décadas. Mas é possível, se houver confiança e vontade.
E o momento é propício. O retorno ao “novo normal” que virá depois dessa pandemia é uma oportunidade para que a nossa sociedade reveja seus conceitos. Podemos começar uma nova história. E a proposta é simples. Vamos voltar a 1595. Vamos festejar a Constituição de 1824. E vamos, sobretudo, entender que o Poder Judiciário não deve ser o único caminho. Boas e melhores experiências nos esperam do lado de fora. Vamos negociar! Vamos conciliar! Vamos mediar! Somos todos capazes!
Leandro Rennó é sócio e head da área de Arbitragem e Mediação do escritório Sion Advogados, doutor em Direito pela Université de Versailles (França), mestre em Direito pela PUC-Minas e professor da PUC-Minas.

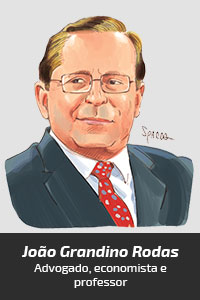
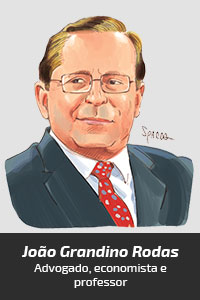 Os Cejuscs alcançaram o número de 1.088 nas Justiças Estaduais ao final do ano de 2018.
Os Cejuscs alcançaram o número de 1.088 nas Justiças Estaduais ao final do ano de 2018.