 Resumo-aviso: este texto não é a favor da volta do lápis!
Resumo-aviso: este texto não é a favor da volta do lápis!
Corretamente o Ministro Luiz Salomão criticou uma petição de RESP de 427 páginas. Pior: a matéria estava vencida de há muito. Aqui se vê o lado perverso da tecnologia. Se o causídico tivesse que escrever à máquina o recurso aposto que não faria mais de 20 páginas. Tentarei tratar destas diversas pontas do problema nas linhas abaixo.
Vejo todos os dias loas às novas tecnologias. Não sou um retrógrado ou jurássico (a não ser quando se fala na Constituição!!!). Tenho em minha casa e escritório toda a tecnologia. A mais moderna.
Mas isso não me fez um intelectual. Meus livros não foram escritos pela tecnologia. Foram escritos com a tecnologia. E, por outro lado, minhas aulas não atraem tanta gente por causa da tecnologia (que, por sinal, não uso em sala de aula). Atraem talvez porque eu seja um bom professor…! A tecnologia me ajuda. Mas não me substitui.
Então, se alguém quer vender essas facilitações tecnológicas, com o argumento de que isso vai trazer uma revolução no Direito, pode fazê-lo. Venda a ideia à vontade. Mas pode ser propaganda enganosa.
Todos os dias aparecem novos argumentos. A onda é ITechLaw, inteligência artificial, robôs que decidem e até corrigem provas. Li recentemente até sobre algo que chamam de advocacia 5.0 (sic). Dizem até que a pandemia trouxe o novo (sic), e que agora clientes e advogados não se atrasam, e os advogados de escritório não gastam tempo em deslocamento… Então tá. Tudo veio para melhorar… Viva a pandemia!
Outra “propaganda” diz que a busca por jurisprudência foi revolucionada. Pode ser. Só não entendo por que as decisões judiciais continuam no recorta e cola como já se fazia. E de que adianta a busca melhorar se o “operador” que está buscando não consegue refletir sobre o “buscado”?
Cada coisa que criam… Por exemplo, o legal design. Há muitos sites sobre isso. Legal design lida com a empatia, dizem. Que coisa, não? É feito por etapas: a primeira fase é a descoberta do problema; a segunda fase é a interpretação, em que, pasmem, “o problema deve ser resumido em uma frase”. Bueno. Parei por aí. É muito profundo. Melhor não lerem as fases seguintes.
De todo modo, quero ver o “método legal design” resolver um caso de distinguishing. Quero ver transformarem “coerência e integridade” em uma frase…! E quero ver…deixa para lá.
Como retranca, depois de dizerem algo como “tecnologia ou o caos”, alguns fazem a observação (não sem antes dizerem que os críticos “não entenderam o que é tecnologia”): a tecnologia não vai interferir ou mudar o direito, que continuará… Dá para notar… Explico na sequência.
O assunto sempre começa com coisas como “o direito é atrasado tecnologicamente”; “o ensino é atrasado”. “Aulas não devem ser expositivas” (pergunto: devem ser por power point, em que o professor lê o que está escrito para os alunos que parece não saberem ler?). Diz-se também que, em tempos de smartphone, não faz sentido o professor ainda achar que é a única fonte de todo o conhecimento.
Opa, alto lá. Já de pronto temos um problema. Primeiro, o smartphone não traz conhecimento. Ele proporciona informações. Qualquer néscio tem acesso à informação. Basta um click. Aliás, se informação de smartphone fosse autossuficiente, não teríamos o aumento de ignorantes no mundo. Isso a tecnologia não explica…
Ou vão dizer que alguém que é analfabeto funcional, transformou-se, depois de ter comprado um smartphone e passar o dia em grupos de whatsapp, em um ser alfabetizado? Na verdade, piorou. Um aluno de direito, com seu smartphone, agora sabe o conceito de Direito? Um advogado que não sabe lhufas sobre recursos e que acha que o direito termina na divisa do município, depois de comprar um tablet transformou-se em um Rui Barbosa?
A confusão dos apaixonados pelo direito 5.0 ou 6.0, turbo-hiper, dá-se por não saberem a diferença entre informação e conhecimento, assim como, até hoje, a comunidade jurídica não sabe a diferença entre ativismo e judicialização (por isso as estatísticas são, na sua maioria, falas), não sabe o conceito de princípio (pensam que é algo que pode ser sacado do bolso).
Vou ajudar, puxando T.S. Eliot: informação não é conhecimento, que não é saber, que não é sabedoria. Por isso (i) precisamos do professor de carne e osso para transformar esse monte de informações em conhecimento. E (ii) precisamos de bons professores para transformar o conhecimento em saber. E, quem sabe, (iii) os melhores professores, de carne e osso, ainda podem transformar o saber em sabedoria. O resto é propaganda.
Fala-se em revolução com startups jurídicas, lawtechs ou legaltechs, market place (Diligeiro e Jurídico Certo), automação de documentos jurídicos (Looplex e Netlex), gerenciamento de prazos e pendências (Legal Note), pesquisa jurídica (JusBrasil) e resolução de conflitos (Arbitranet e Acordo Fácil). Não nego que, no meio de tudo isso, algo possa ser útil – mas como ferramenta.
Nem vou falar do estelionato que virou essa “coisa de busca de jurisprudência” na internet. Despiciendo. Autoexplicativo. Outra pergunta: Diligeiro revoluciona em termos de conhecimento? Ou em informações? E Market place? Acordo fácil? Claro: fácil (itação). Não esqueçamos que o Brasil deve ser o único (ou último) país que tem despachantes de trânsito. São facilitadores… Livros facilitados e resumos são uma espécie de atalho. Despachantes.
Também impressiona o encantamento com softwares de inteligência artificial (IA) com potencial, afirmam por aí, de substituir (sic) o operador do Direito em várias áreas. Uau. E eu vou para o quarto do pânico ou para as montanhas. Fugindo do software dos recursos, que vitima milhares de direitos por dia.
Seria o Direito uma mera ferramenta, manipulável por dois bites? Eis o paradoxo: se os encantadores estiverem corretos, estarão errados. Se vencerem, perderemos. Todos. Afinal, se o Direito é ferramenta manipulável por robôs, aí estará a vitória dos seus inventores e cultuadores. Mas será também a derrota do Direito e dos advogados e demais atores. Paradoxo! Ao vencer, perde.
As crises do ensino jurídico e da aplicação do Direito não existem por causa da falta de tecnologia e quejandos. Ao contrário: parte da tecnologia está emburrecendo mais ainda os alunos, porque traz facilitações, substituindo leituras e pesquisas por tecnologias prêt-à-porter, como resumos e resuminhos e drops jurídicos e ementas descontextualizadas. É sobre isso que os encantados pelas novas tecnologias deveriam se debruçar. Por que a tecnologia não diminui o número de alunos analfabetos funcionais?
Os encantados pela tecnologia deveriam se preocupar com essa praga que são os resumos high tech. Aliás, isso tudo constitui um “novo” tipo de ensino prêt-à-porter, prêt-à-penser e prêt-à-parler. A sala de aula com os alunos utilizando seus celulares conectados com Google e Facebook, etc, transformou-se em um inferno. Todos têm acesso à informação…mas poucos adquirem algum conhecimento. Mais tecnologia, mais informação, menos conhecimento, menos saber, menos sabedoria.
Ledo engano achar que a ferramenta substitui a ciência. Ou o saber. Ou que melhores ferramentas podem substituir a necessidade de estudo. Não existe intelectual bronzeado!
Podem dizer que sou jurássico, que não entendi nada e que quem defende isso não quer afirmar tal e tal coisa e que as tais ferramentas tecnológicas apenas servem para ajudar. Está bem. Aceito o argumento, mas mantenho a crítica.
Dizem que “só a tecnologia salva o Direito”. Em nome “de o” senhor Deus ex machina”. Mas, por que a coisa só piora? A não ser para quem faz direito tipo uber ou coloca produção jurídica tipo fordismo… Admito que quem faz trabalho de massa precisa de alta performance tecnológica. Mas não é desse direito que falo.
Respondam: com o advento de toda essa tecnologia, as decisões melhoraram? As respostas aos embargos? Como estão, na era Itech? E a jurisprudência defensiva? Diminuiu? Cartas para a redação.
Portanto, muita calma nessa hora. Se você quer vender tecnologia, OK. Mas não me altere o samba tanto assim.
Ora, só não vê quem não quer ver. Dia a dia, recursos são e serão examinados por robôs. Robôs especialistas em Direito tal e tal. Permito-me dizer que isso tudo apenas reforça as antigas distopias que a literatura nos mostra. Como uma espécie de “De volta para o futuro”, em que a SkyNet toma conta do mundo.
Quero que me digam como os depoimentos filmados são assistidos em grau de recurso, para falar só desse problema. Já discuti o processo eletrônico (aqui e aqui), essa invenção tecnológica brasileira.
Afirma-se que a tecnologia promove uma democratização do conhecimento… Digo eu, de novo: Como assim? A tecnologia apenas promove a democratização da… informação. O professor – esse sujeito que deveria ganhar auxílio insalubridade – é quem tem a tarefa de transformar essa informação em conhecimento (que é apenas o começo), esse conhecimento deve ser transformado em saber e esse saber em sabedoria.
Outo paradoxo: se o aluno descobrir que “tudo está no tablet”, não necessitará mais ir à faculdade. A vitória é a derrota.
Ora, as pessoas cada vez mais se “comunicam” por neo-hieroglifos (os emojis). Os livros são pirateados, escamoteando direitos autorais. Há robôs que fazem petições, sites vendendo “tudo fácil”, “direito pré-pronto”, “direito-uber”, robôs que fazem acordos etc. Milhões de artigos, memes, aulas musicadas e conceitos pequeno-gnosiológicos estão à disposição dos alunos e dos profissionais a um click.
Essa parafernália, esse Deus ex machina, composto de technismos e quejandos, só tem sentido se alguém, uma pessoa que tenha saber, souber fazer “gerenciamentos epistêmicos”, se me entendem o que quero dizer. “Epistêmicos”, professor? Pois é. Clique no Google. Leu? E agora? Entendeu? De nada serve a tecnologia sem gerenciamento epistêmico.
Professor, faça o teste: peça para o aluno com smartphone na mão, que acabou de ler a palavra epistemologia e até mesmo o seu conceito, para ele interpretar o que leu… Em nome de o Senhor Deus ex machina.
O bom ensino jurídico exige cultura. Os melhores centros de estudo do mundo mantêm sua excelência nessa base, incorporando os úteis desenvolvimentos tecnológicos às suas rotinas, mas sem viajar em modismos.
Não se trata de nostalgia de minha parte. Descobertas que facilitam a vida são bem-vindas, mas há falsas facilidades sobre as quais devemos alertar.
Isso é a mesma coisa do que essa “novidades” (para mim, bobagens) do tipo “textos devem ser curtinhos, máximo dez linhas”, e palestras só devem ter 18 minutos. Tenho que rolar de rir. Por que será que as pessoas ficam uma hora e meia assistindo a um filme e só conseguem ficar 18 minutos prestando atenção a um palestrante? Será que o problema não é o palestrante? Entenderam?
A crise do ensino exige uma ampla reformulação das matrizes teóricas atrasadas com as quais se formam os profissionais. A crise se resolve… lendo. Estudando. Pesquisando…, mas não em sites prêt-à-porters. E os concursos só melhorarão a seleção de profissionais se pararem com o modelo quiz show. E os cursinhos não mais “treinarem” os candidatos.
Antigamente meu pai dizia: curso superior não encurta orelha de ninguém, ao se referir a um néscio advogado lá da minha terra. Hoje, adaptando, posso afirmar: a tecnologia não encurta orelha de aluno, professor, juiz, promotor, advogado.
Numa palavra: não adianta ter cinco computadores, startups etc. e estudar em resuminhos Itech.
Antigamente os livros mais vendidos eram os ementários. Agora os sites resumem os acórdãos…porque a malta não lê mais do que dez linhas. Eis o grande avanço (ironia).
Professor pode optar pelo modelo que quiser. Advogado também. Mas não me venham com essa conversa de que o ensino vai mal por não usar tecnologias. Bah. E que a aplicação do Direito melhorará. Poxa. Há quanto tempo já se usa tecnologia e… Bom, novas cartas para a redação.
Eu continuo com aulas expositivas e seminários, do mesmo modo como cursei mestrado e doutorado. Quem quiser assistir às minhas aulas jurássicas e constatar essas coisas ultrapassadas e não-inovadoras, está convidado a conferir. Mas não pode ligar o smartphone e nem ficar olhando a internet ou o Facebook. O professor sou eu!
Que tal um teste de legal design hoje? Descubra o problema do pamprincipiologismo no Direito. E, na segunda fase do “método”, escreva tudo em uma frase. Difícil? Também acho. Melhor ler o meu Dicionário de Hermenêutica, que, aliás, está em sua segunda edição, com dez novos verbetes (Valores, Autonomia do Direito, Cognitivismo e não-cognitivismo moral, Dualismo Metodológico, Livre Convencimento, Livre Apreciação da Prova, Literalidade, Voluntarismo, Jusnaturalismo e Precedentes). Agora já são 50. Tentei colocar tudo em dez páginas…, mas deu 485. Difícil. Muito.



 Vejo que após a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no que toca à inconstitucionalidade do artigo 29 da MP 927, muito se fala no reconhecimento, pela Suprema Corte, de que os casos de contágio pela Covid-19 agora são considerados ocupacionais.
Vejo que após a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no que toca à inconstitucionalidade do artigo 29 da MP 927, muito se fala no reconhecimento, pela Suprema Corte, de que os casos de contágio pela Covid-19 agora são considerados ocupacionais.
 Resumo-aviso: este texto não é a favor da volta do lápis!
Resumo-aviso: este texto não é a favor da volta do lápis!
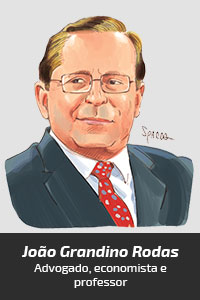
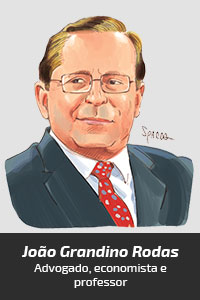 Ajuizada, em outubro de 2018, pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), a ADI 6.031 foi julgada, em sessão virtual, pelo STF em março de 2020 e volta, nesta semana, à pauta da Corte Suprema. Ela analisará Embargos de Declaração, visando aclarar a decisão que julgou constitucional o art. 8º da Lei 10.209/20018; entendendo ter sido ela criada para proteger o caminhoneiro autônomo (parte vulnerável da relação); não tendo, contudo, afastado a extensão indevida da norma aos contratos com transportadoras profissionais (empresas em que está ausente o requisito de vulnerabilidade). Embora, normalmente, julgamentos de Embargos de Declaração não suscitem grande interesse, devido a seu pouco alcance, não é o caso do presente.
Ajuizada, em outubro de 2018, pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), a ADI 6.031 foi julgada, em sessão virtual, pelo STF em março de 2020 e volta, nesta semana, à pauta da Corte Suprema. Ela analisará Embargos de Declaração, visando aclarar a decisão que julgou constitucional o art. 8º da Lei 10.209/20018; entendendo ter sido ela criada para proteger o caminhoneiro autônomo (parte vulnerável da relação); não tendo, contudo, afastado a extensão indevida da norma aos contratos com transportadoras profissionais (empresas em que está ausente o requisito de vulnerabilidade). Embora, normalmente, julgamentos de Embargos de Declaração não suscitem grande interesse, devido a seu pouco alcance, não é o caso do presente.
