José Eduardo Martins Cardozo apareceu e saiu dos holofotes da cena política em dois processos de impeachment. Em ambos, suas teses acabaram derrotadas. No primeiro, como presidente da CPI da Máfia dos Fiscais na Câmara de Vereadores de São Paulo, durante a gestão do então prefeito de São Paulo Celso Pitta (1997-2000), o pupilo do ex-prefeito Paulo Maluf acabou se safando em votação no plenário, em junho de 2000.
 Mas o trabalho de Cardozo rendeu a cassação de três vereadores e, na eleição daquele mesmo ano, foi o candidato a vereador mais votado na capital paulista, com quase 230 mil votos.
Mas o trabalho de Cardozo rendeu a cassação de três vereadores e, na eleição daquele mesmo ano, foi o candidato a vereador mais votado na capital paulista, com quase 230 mil votos.
Em 2016, depois de dois mandatos como vereador, outros dois como deputado federal e cinco anos à frente do Ministério da Justiça (2011-2016), deixou a função de advogado-Geral da União em maio quando a então presidente Dilma Rousseff foi afastada pela Câmara dos Deputados. Passou a atuar como advogado particular da petista durante o processo de impeachment no Senado.
Nos embates com Janaina Paschoal, uma das coautoras do pedido contra Dilma, a hoje deputada estadual pelo PSL levou a melhor na batalha. E acabou sendo eleita em 2018 com a votação mais expressiva (2.060.786) na história da Assembleia Legislativa de São Paulo.
Cardozo se retirou da vida política e voltou a ser advogado e professor. Procurador do Município de São Paulo aposentado, hoje advoga e dá aulas na capital paulista (PUC) e em Brasília (UniCEUB).
Em entrevista exclusiva à ConJur, bateu no ativismo judicial, defendeu sua gestão à frente do Ministério da Justiça durante os governos Dilma (2011-2016) e lembrou da pressão que sofreu tanto do seu partido [PT] quanto da oposição por suposta falta de “controle” sobre as ações da Polícia Federal.
Lembrou de quando foi convocado para depor no Congresso: “Das duas, uma, ou eu não controlo [a PF] ou eu instrumentalizo. Decidam. Na verdade, não era nem controlar nem instrumentalizar, é saber respeitar o Estado de Direito, só isso”.
Cardozo criticou os “engenheiros de obras prontas” nos casos da “Lei Anticorrupção” e do instituto da delação premiada, ambas sancionadas por Dilma e ferramentas essenciais nas condenações proferidas pelo então juiz Sergio Moro.
“Quando você faz uma lei, é a partir da análise do momento em que é elaborada. Nunca imaginei que fosse ser utilizada da forma abusiva que foi.”
Na conversa de mais de 2 horas pelo telefone, o professor falou muito sobre impeachment, do acordo de cooperação investigativa com os Estados Unidos, de Constituição, do governo Bolsonaro e do nosso ordenamento jurídico.
“Não foi o ordenamento jurídico que falhou [nos abusos cometidos pela “lava jato”]. Foram os homens que operavam o ordenamento jurídico que falharam. Pelo Estado de Direito, os fins não justificam os meios. Pelo Estado de Direito, não poderiam ter feito coisas como foram feitas, condenações sem provas, condenações por convicções, condenações midiáticas, operações feitas para chamar atenção da opinião pública.”
Leia abaixo os principais trechos da entrevista:
ConJur — Na entrevista em que anunciou que deixava o governo, o então ministro Sergio Moro [Justiça] citou vocês [governos Lula e Dilma]. Disse que a Polícia Federal não sofreu interferência direta como viria a sofrer neste atual governo. Não deixa de ser um elogio, mas também não foi temerário deixar o consórcio formado a partir da 13ª Vara Federal de Curitiba operar com tamanha liberdade?
José Eduardo Cardozo — É uma crítica que tenho ouvido muitas vezes. Lembro da época que até fui criticado por alguns companheiros. Por adversários também, quando uma investigação chegava aos deles.
Diziam que estava instrumentalizando a Polícia Federal contra eles. Fui até chamado no Congresso. Estava em curso uma investigação que falava do cartel do Metrô de São Paulo. Tinha mandado abrir uma investigação e me chamaram para dizer que eu estava intimidando o Congresso, instrumentalizando a Polícia Federal.
Falava: das duas, uma, ou eu não controlo ou eu instrumentalizo. Decidam. Na verdade, não era nem controlar nem instrumentalizar, é saber respeitar o Estado de Direito, só isso. Não se pode interferir numa investigação, a não ser em casos de abusos, abrindo inquéritos. E isso foi feito em todos os casos por mim quanto pelo Leandro Daiello, que era o diretor-geral da Polícia Federal.
ConJur — Mas houve muito abuso, não? Fica a impressão de que Polícia Federal e Ministério Público são incontroláveis, sem hierarquia.
Cardozo — Estes órgão têm autonomia investigativa, mas não têm autonomia para cometer abusos. Várias inquéritos foram abertos quando se tinha vazamento. Aliás, vou ser bem sincero. Na “lava jato”, parte daquilo que a imprensa falava em vazamento, era Moro quem já tinha levantado o sigilo de inquérito. Então não havia ilegalidade. Agora, se alguém da força-tarefa indicava aos jornalistas páginas do processo… Mas era público.
Muitas vezes a Polícia Federal é a parte visível das operações porque faz a busca, a prisão. A Polícia Federal apenas cumpre o que um juiz determina.
O ministro da Justiça não tem como punir delegado, mesmo que ele ache que a ordem judicial é arbitrária. Você está cumprindo ordem judicial. Quem tem que fiscalizar abusos do Judiciário não é o ministro da Justiça. É o CNJ (conselho da Justiça), o CNMP (conselho do Ministério Público).
Essa má compreensão das instituições que funcionam num Estado de Direito tem uma mentalidade autoritária. Cobra agir com os amigos diferente do que se age com os adversários. E isso fazia com que nós sofrêssemos muitas críticas de descontrole.
ConJur — Em 2014 o FBI já tinha feito grandes acordos no combate à corrupção no Brasil. Em 2013 Dilma havia sancionado a chamada “Lei Anticorrupção” e também oficializado o instituto da delação premiada. Não foi o conjunto dessas ações que possibilitou quase todas as condenações de Moro?
Cardozo — Era um projeto de lei muito antigo. Nós apoiamos. Quando você faz uma lei, é a partir da análise do momento em que é elaborada. Nunca imaginei que fosse ser utilizada da forma abusiva. Na verdade, visava combater organizações criminosas. Era necessária para enfrentá-las.
Agora, prender pessoas para delatar. Nunca imaginei que fossem dar uma latitude tão grande a isso. Hoje, pela experiência, acho que essa lei tem que ser aperfeiçoada para evitar o abuso de poder. Naquela época não tínhamos essa avaliação. Você nunca prevê o futuro.
Achava que as pessoas iam utilizar essa lei dentro das finalidades que ela estabelece e não utilizando a lei como pretexto para verdadeiros atos de tortura, quando o investigador vem e diz: “ou fala o que eu quero ou continua preso”.
Então, me admiro também, muitas vezes, alguns engenheiros de obras prontas. No momento em que a lei foi aprovada, não falaram nada.
ConJur — Houve cooperação da força-tarefa de Curitiba diretamente com investigadores dos Estados Unidos sem o governo federal ser informado. O que o senhor tem a dizer?
Cardozo — A Polícia Federal tem acordos de cooperação com polícias do mundo inteiro, não só com os Estados Unidos. Evidentemente eu não sei te dizer que tipo de contatos foram utilizados pela força-tarefa, Ministério Público e Polícia Federal com o acordo de cooperação. Há muita especulação sobre isso. Sou daqueles que não falo por convicções, só com provas.
Então, sinceramente, acho que não tenho como falar de fatos que eu não sei e que pesa haver muita especulação a respeito.
ConJur — Anos depois, como o senhor avalia a operação “lava jato”. Está enfraquecida?
Cardozo — A “lava jato” tem dois lados. Uma intenção muito boa e um propósito excelente que é o combate à corrupção. A corrupção é um dos grandes malefícios do Brasil historicamente.
Mas tem um lado perverso. No Estado de Direito, os fins não justificam os meios. E em face dessa situação eu vi na operação situações extremamente abusivas. Aquelas que competiam à Polícia Federal eu mandei abrir sindicância. Todavia, vi uma série de abusos no âmbito do Poder Judiciário e no âmbito do Ministério Público.
Prisões indevidas, temporárias, cautelares, apenas com o objetivo de intimidar, de criar fatos midiáticos ou delações premiadas. Situações de perda de imparcialidade. Aliás, todas elas agora escancaradas pelas divulgações do The Intercept Brasil.
Então vejo um lado perverso, demoníaco, que prestou um grande desserviço ao país, que é exatamente essa burla da legalidade, responsável pelo desequilíbrio de poder. Acho que seria perfeitamente possível, como todos os países do mundo fazem, combater a corrupção de frente, sem comprometer a saúde das empresas. A “lava jato” acabou provocando, no Brasil, problemas e danos econômicos seríssimos.
Nós tentamos dialogar com o Ministério Público justamente para punirem as pessoas físicas que tinham feito isso. Punir o CPF, mas não punir as empresas.
ConJur — Nosso ordenamento jurídico falhou?
Cardozo — Não foi o ordenamento jurídico que falhou. Foram os homens que operavam o ordenamento jurídico que falharam. Pelo Estado de Direito, os fins não justificam os meios. Pelo Estado de Direito, não poderiam ter feito coisas como foram feitas, condenações sem provas, condenações por convicções, condenações midiáticas, operações feitas para chamar atenção da opinião pública ao invés de uma finalidade de investigação.
ConJur — Uma avaliação da gestão de Moro à frente do Ministério da Justiça.
Cardozo — Logo que ele aceitou, para meu espanto, um ministério daquele que indiretamente ajudou a eleger, achava antiético. Dizia também o seguinte: pelo perfil que eu observava, Jair Bolsonaro, que eu conheci, porque fui deputado com ele, e Sergio Moro, que observei como juiz, a situação era incompatível sem que um se submetesse ao outro.
E neste pouco mais de um ano que esteve no Ministério da Justiça a atuação ficou muito a desejar. Se limitou ao tal do “pacote anticrime”. Se tivesse sido aprovado na versão que ele mandou para o Congresso, seria um desastre. Vi também uma postura muito acanhada como ministro durante a crise do coronavírus. Ele sumiu.
ConJur — O senhor publicou recentemente um artigo aqui na ConJur em que defende decisão liminar que impediu a posse do novo diretor-geral da Polícia Federal escolhido pelo presidente.
Cardozo — Exato.
ConJur — No mesmo texto, porém, discorda de uma também decisão monocrática do STF, em 2016, que impediu a posse do ex-presidente Lula como ministro da então presidente Dilma. Pode explicar melhor?
Cardozo — Tenho sido muito crítico do ativismo judicial. Julgar significa aplicar dentro das possibilidades daquilo que a lei e a Constituição dizem. Não pode ser aquilo que eu quero que a Carta diga. Descalibra o Estado de Direito. Feita a ressalva, digo que a teoria do controle de atos administrativos pelos textos jurídicos é uma norma antiga e pacífica. Vem do Direito francês e tem relação com a aplicação do princípio da legalidade. Se no Estado de Direito é a lei que determina o que é interesse público, o ato administrativo perfeito tem por finalidade alcançá-lo. Se um ato administrativo concretamente praticado se desvia da finalidade que a lei consagra, é um ato ilegal. E se é ilegal, o Judiciário tem o dever de anular. Normalmente, os autores brasileiros e estrangeiros afirmam que o desvio de poder não exige uma prova documental, digamos assim, absoluta, mas que ele se revela por um conjunto de indícios que somados mostram a finalidade desviada do ato. Exigir recibo de desvio de poder é a mesma coisa que exigir recibo de corrupção. Você prova por um conjunto de indícios.
No caso do presidente Bolsonaro, parece que fica claro, com o conjunto de indícios que mostram a correção da decisão do ministro Alexandre de Moraes. A renúncia de Moro isolada, por si só, não seria um conjunto de indícios.
Bolsonaro já disse que teve que pedir quase de joelhos para a Polícia Federal investigar uma coisa que poderia mostrar a inocência dos seus filhos. O presidente da República nem manda nem pede investigação para preservar quem quer que seja ou para punir quem quer que seja. Quem conduz uma investigação, pela lei, é o delegado de polícia. O ministro da Justiça e presidente da República são apenas superiores administrativos da Polícia Federal. Isso não lhes dá o direito de pedir investigação, até porque num caso desse tipo em que eu queira proteger alguém, isso obviamente tem a ver com a ausência do princípio da impessoalidade, que está previsto no artigo 37 da Constituição.
O Executivo tem liberdade para escolher quem queira nomear, mas se junto de evidências que cercam a nomeação ou qualquer ato administrativo mostrar que esta nomeação se destina a desrespeitar a lei, aí é desvio de poder.
ConJur — E o caso do ex-presidente Lula?
Cardozo — Vamos aos fatos. Primeiro, Moro divulga ilegalmente um áudio descontextualizado. Hoje fica cada vez mais claro que, se tivesse divulgado todos os áudios que envolviam aquela conversa vazada, nós saberíamos que Lula não queria ser nomeado justamente para que não dissessem que ele estava tentando se livrar da prisão. Mas naquele momento não eram conhecidas as descontextualizações do áudio.
Esse áudio é a razão de ser da decisão do Supremo, uma prova ilícita que a Corte [decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes] não sabia que era.
Mas mesmo que não fosse ilícita, a presidente, claramente, por meio de seus ministros, em uma nota oficial, disse que não confirmou aquele diálogo nesse sentido. Explicou que o sentido era outro. Lula não tinha aceitado naquele momento. Só poderia ir à posse já marcada de dois ministros numa sexta-feira porque acompanharia dona Marisa ao hospital.
Então o que eu tenho juridicamente é uma prova ilegal, que pedia uma interpretação, não confirmada pela presidente. O Supremo então tinha que ter esse contexto. A teoria do desvio de poder é a mesma a qualquer ato administrativo, só que no caso de Lula e Dilma não havia a certeza.
ConJur — Sobre impeachment. Se Eduardo Cunha não tivesse poder regimental de timing do processo, o desfecho poderia ter sido outro?
Cardozo — Não tenho a menor dúvida que sim. A bola propulsora do impeachment foi Eduardo Cunha, que contou com o apoio do grupo comandado por Aécio Neves.
Esse grupo não concordava com o resultado das eleições de 2014. E desde o primeiro dia tentou articular razões para o impeachment. Recontagem, que as máquinas de votação não funcionavam. Moveram tudo o que podiam. Aí, quando nada deu certo, foram para o impeachment. Contavam com Cunha porque o o presidente da Câmara queria controlar o governo para parar a “lava jato”. Ele não escondia isso.
E a gota d’água foi quando Dilma não comandou o PT, e nem deveria, para que o partido votasse contra o pedido de processo de cassação dele.
ConJur — O senhor não acha que o presidente da Câmara acumula muito poder?
Cardozo — Acho que a legislação do impeachment, como um todo, é muito antiga. Consegue ser mais velha do que eu, de 1950 [Cardozo nasceu em 1959].
Houve até um pedido do PCdoB, que entrou com uma ação no Supremo para criar regras depois do impeachment já aberto. Houve uma decisão do ministro [Luís Roberto] Barroso, e o STF acatou as regras como base do julgamento do presidente Fernando Collor. É necessária uma nova lei que rediscipline o impeachment. Precisa ser ajustada à Constituição de 1988, ao espírito democrático dela, inclusive dessa questão da abertura do processo de impeachment.
ConJur — No impeachment de Dilma, muitos defenderam que os crimes de responsabilidade tenham natureza penal. Outros defendem que são de natureza política.
Cardozo — O fato dele ser chamado de crime não o transforma num processo penal, até porque um presidente pode ser condenado penalmente ou não condenado penalmente e ter ou não ter um processo de impeachment.
São responsabilizações diferentes, o que não afasta a necessidade de ter pressupostos jurídicos. A diferença entre o presidencialismo e o parlamentarismo, uma delas, está justamente no fato que quando um presidente perde a maioria parlamentar, ele cai. No presidencialismo, não. Então isso mostra que não basta perder a maioria parlamentar, é necessário juridicamente ter pressupostos e um ato ilícito grave sobre o qual se abre defesa para que se perca o mandato.
Ora, portanto não é um processo só político, em que basta a conveniência. É necessário demonstrar a ocorrência de um fato que justifique o crime de responsabilidade.
ConJur — O senhor acha que a presidente Dilma não cometeu crime. E o presidente Bolsonaro?
Cardozo — Não tenho a menor dúvida. Tinha muita dúvida antes, nos últimos meses. Porque os primeiros atos dele foram irracionais, destemperados, falava-se muita bobagem. Falar bobagem e mostrar situações de descompasso com a racionalidade não são crimes de responsabilidade.
A partir do momento em que passa a participar da convocação de atos antidemocráticos. Em que tenta utilizar o seu poder para interferir nas investigações, isso a meu ver configura crime de responsabilidade.
Agora, há um juiz de conveniência e oportunidade que compete ao Congresso. O presidente pode partir para o ilícito e entender que não é caso de impeachment porque seria pior para a sociedade tirá-lo do que ele ficar. Então, por isso que é um processo jurídico-político.
ConJur — Alguma sugestão de como deveria ser redesenhado o processo de impeachment no presidencialismo brasileiro?
Cardozo — Tenho duas sugestões. Uma micro e outra macro. A micro é uma nova lei, uma perspectiva que seja mais segura, para garantir o contraditório.
Numa perspectiva maior, daí eu falo das minhas convicções, que não são nem as do meu partido. Sou parlamentarista, acho o presidencialismo um sistema que traz instabilidade política e insegurança. Então, pessoalmente, se pudesse, proporia para o país o semipresidencialismo, que acho que se ajustaria muito bem à realidade histórica e cultural brasileira, nos moldes que existe em Portugal e na França. E isso casa com o voto distrital misto, que é o sistema alemão. Tudo isso qualificaria o sistema perfeito? Não, porque não existem sistemas perfeitos nem democracia perfeita, embora seja o melhor dos sistemas.
ConJur — Acha que o inquérito autorizado pelo Supremo contra Bolsonaro pode canalizar a decisão para o Judiciário em vez de ficar no Congresso?
Cardozo — Pode. A Procuradoria-Geral da República teria que denunciá-lo. Aí a autorização para abertura do processo pode implicar no seu afastamento. Claro, até o julgamento do processo. Então, talvez, se isso vier a acontecer, seria a maneira mais rápida, dentro da Constituição, desde que provado que ele praticou o crime. Ele pode ser afastado.
ConJur — Sobre Constituição. O senhor acha que ruiu esse modelo de 1988?
Cardozo – Não. Sou um defensor da Constituição de 1988, embora ache que existem algumas questões que nós devemos discutir para aperfeiçoá-la. O grande mérito dela é que firmou um Estado Democrático de Direito e assegurou direitos fundamentais e instituições como nunca antes nós tivemos na nossa história.
Evidentemente que há aspectos, por exemplo, em que acho que não andou bem. A reforma agrária, por exemplo. A Constituição de 1946 é um pouco mais avançada do que a nossa atual. Mas, de modo geral, é uma Constituição avançadíssima dentro da nossa história.
ConJur — Um dos argumentos utilizados para o impeachment de Dilma era a questão orçamentária, equilíbrio fiscal, que está dentro desse desenho da Constituição.
Cardozo — Sou favorável ao equilíbrio fiscal. Acho que nenhum governo pode ser irresponsável com as suas contas. O que eu sou contra é o engessamento que foi feito não pela nossa Constituição, mas por aquela emenda ao longo do governo Temer [2016-2018], que engessa teto de gastos. Aí é um pecado introduzido pelo Michel Temer.
ConJur — A emenda do teto de gastos e a reforma trabalhista redesenharam a Constituição?
Cardozo — Acho que trouxe grandes marcas à Constituição. Ou seja, o mal não está na estrutura da Constituição de 1988, está em certas questões que foram nela introduzidas, a meu ver incompatíveis a seu próprio espírito. O Congresso decidiu. A reforma trabalhista foi muito ruim. O teto de gastos foi péssimo. Não é questão para ser tratada em Constituição. A Carta Magna tem que colocar os grandes princípios. Ali se tentou agradar o mercado e realmente se esqueceu que o Estado Democrático de Direito do Brasil é um Estado social.
ConJur — Na campanha de 2018 Fernando Haddad chegou a defender uma nova Constituição. O que o senhor pensa a respeito?
Cardozo — Não concordo. Acho que o redesenho constitucional do Brasil hoje vai sair pior a emenda que o soneto. Uma Constituinte hoje, no clima que nós vivemos no Brasil de intolerância, de ódio disseminado, onde o símbolo da arminha prevalece ao símbolo do coração. Diria que seria uma Constituição do ódio, não da pacificação e não da estruturação de um Estado democrático, como faz a de 1988.








 O escritor Lima Barreto é um injustiçado. Um triste visionário, na percepção de recente biografia lançada pela historiadora e antropóloga Lilia Maria Schwartz. Que livro! Lima Barreto era um homem do trópico com alguma coisa de russo dos gelos em sua vocação para escrever romances ao mesmo tempo sociais e introspectivos, na alusão de Gilberto Freyre, um insuspeito, para esse tipo de assunto. Lima Barreto viveu em contexto de frustração, de falta de reconhecimento, de preconceito racial, situações existenciais que talvez o induziram ao alcoolismo, que o levou à morte, no mesmo hospital onde seu pai estava internado, pela mesma razão, morrendo os dois — pai e filho — com a distância de alguns dias. Na verdade, pode-se pensar no triste fim de Lima Barreto. Muito triste.
O escritor Lima Barreto é um injustiçado. Um triste visionário, na percepção de recente biografia lançada pela historiadora e antropóloga Lilia Maria Schwartz. Que livro! Lima Barreto era um homem do trópico com alguma coisa de russo dos gelos em sua vocação para escrever romances ao mesmo tempo sociais e introspectivos, na alusão de Gilberto Freyre, um insuspeito, para esse tipo de assunto. Lima Barreto viveu em contexto de frustração, de falta de reconhecimento, de preconceito racial, situações existenciais que talvez o induziram ao alcoolismo, que o levou à morte, no mesmo hospital onde seu pai estava internado, pela mesma razão, morrendo os dois — pai e filho — com a distância de alguns dias. Na verdade, pode-se pensar no triste fim de Lima Barreto. Muito triste.
 O avanço da pandemia do novo coronavírus tem aumentado os desafios para o administrador público. Respostas rápidas e eficientes são cada vez mais urgentes e estimulam a busca por soluções inovadoras, experimentais e compatíveis com a juridicidade.
O avanço da pandemia do novo coronavírus tem aumentado os desafios para o administrador público. Respostas rápidas e eficientes são cada vez mais urgentes e estimulam a busca por soluções inovadoras, experimentais e compatíveis com a juridicidade.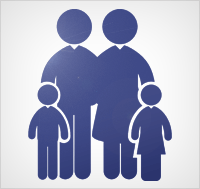



 Mas o trabalho de Cardozo rendeu a cassação de
Mas o trabalho de Cardozo rendeu a cassação de 
 Essa problemática foi recentemente enfrentada pelo supremo. Todavia, parece também estar distante do consenso. Analisar os posicionamentos antagônicos dos senhores ministros mostra-se imperioso para uma reflexão sobre a temática. Desta forma, serão trazidos os principais argumentos dos senhores Ministros do supremo Tribunal Federal na ocasião do julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43 e 44.
Essa problemática foi recentemente enfrentada pelo supremo. Todavia, parece também estar distante do consenso. Analisar os posicionamentos antagônicos dos senhores ministros mostra-se imperioso para uma reflexão sobre a temática. Desta forma, serão trazidos os principais argumentos dos senhores Ministros do supremo Tribunal Federal na ocasião do julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43 e 44.