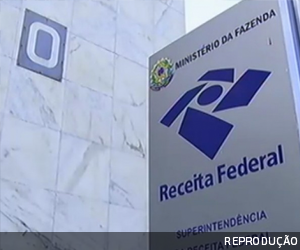No nosso artigo desta semana, seguiremos endereçando nossas reflexões à aplicação do novel art. 19-E, da Lei nº 10.522/02[1], sempre com o escopo de fomentar o debate científico acerca do tema, em função de sua grande relevância para os processos em julgamentos ou já julgados no âmbito do Carf.
 Hoje, trataremos de outra questão controvertida: a possibilidade de aplicação do artigo 19-E aos processos administrativos já encerrados, sob o rito do Decreto nº 70.235/72[2], pelo voto de qualidade, mas cujas multas seguem sendo executadas cobradas judicialmente. Em suma: a possibilidade de sua aplicação retroativa.
Hoje, trataremos de outra questão controvertida: a possibilidade de aplicação do artigo 19-E aos processos administrativos já encerrados, sob o rito do Decreto nº 70.235/72[2], pelo voto de qualidade, mas cujas multas seguem sendo executadas cobradas judicialmente. Em suma: a possibilidade de sua aplicação retroativa.
No panorama atual de debate, alguns têm defendido que a regra veiculada pelo art. 19-E teria natureza de norma de direito material, em razão da invocação do art. 112 do CTN em sua “exposição de motivos”. Logo, o novo dispositivo seria apenas interpretativo do art. 112 do CTN, retroagindo, portanto, em razão do prescrito no art. 106, I, do mesmo Código[3] – posição com a qual não concordamos, tendo em vista que o referido artigo “interpretado” nada tem a ver com os critérios de resolução de empates nos julgamentos administrativos. Esse entendimento, entretanto, não contraria o argumento, defendido por muitos, de uma eficácia direta do art. 112 sobre a aplicação de sanções em casos nos quais houve dúvida subjetiva do Colegiado[4], mas apenas sustenta a inaplicabilidade do art. 106, I, do CTN.

Outro desdobramento da premissa de se tratar de uma norma de direito material, foi a proposta de sua aplicação exclusivamente para sanções mantidas por voto de qualidade, com fundamento no art. 106, II, “a” ou “c”, do CTN[5]. Essa posição tampouco nos parece prosperar, pela literal inaplicabilidade das alíneas em questão, em face dos tipos infracionais restarem inalterados após a inserção do artigo 19-E na Lei nº 10.522/02 — não há abolitio total ou parcial de qualquer regra sancionatória, muito menos o abrandamento de suas consequências normativas.
A nossa divergência, no fundo, remete à própria premissa assumida: não vislumbramos a possibilidade de adjudicarmos a uma regra que diz respeito ao resultado de julgamentos de processos administrativos federais uma estrita natureza de direito material. Ora, a regra do artigo 25, §9, do Decreto nº 70.325/72 era de regra de direito processual, e a norma que a revogou parcialmente também tem igual natureza.
As regras de direito processual, como é sabido por todos, têm a particularidade de aplicadas sempre prospectivamente (tempus regit actum), é dizer, sem retroagir sobre casos julgados no passado, conforme se verifica no artigo 14 da Lei nº 13.105/2015 (CPC) e artigo 2º do Decreto-lei nº 3.689/1941 (CPP), verbis:
Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.
Art. 2º A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior.
Por outro lado, é preciso também ponderar que o processo administrativo regido pelo Decreto nº 70.235/72 não se restringe à determinação e exigência de tributos, mas também é instrumento para a aplicação de sanções, tanto de natureza tributária[6] (multas de ofício ou isoladas), como também de não-tributárias (a exemplo da multa decorrente da conversão de pena de perdimento, nos casos de interposição fraudulenta na importação). O fato de eventualmente envolver a cobrança de tributos não desnatura a possibilidade de também se pôr juridicamente como um processo administrativo sancionatório.
Nesse sentido, a regra inserida pelo art. 19-E da Lei nº 10.522/02 tem uma natureza bifronte, na medida em que, ao mesmo tempo, veicula i) uma regra processual, pondo fim a um julgamento colegiado na hipótese da votação terminar empatada, de modo que o processo possa seguir seu curso procedimental lógico, e ii) também estabelece a diretriz quanto ao cumprimento (exequibilidade) ou não de uma sanção.
Assim, parece-nos que ela guarda similitude com um tipo de regra processual amplamente reconhecida e estudada na doutrina e jurisprudência processual penal, quais sejam, as normas processuais mistas ou híbridas.
Há divergências doutrinárias sobre o alcance dessa categoria de regras, o que desemboca em uma corrente mais i) restritiva e outra mais ii) ampliativa. O ponto em comum entre ambas, todavia, é a mesma premissa de que é possível encontrar no ordenamento jurídico normas que, simultaneamente, encerrem comandos de natureza processual-penal e de natureza penal-substancial[7]–[8].
Segundo a corrente mais restritiva, normas processuais mistas ou híbridas são aquelas que, de alguma forma, digam respeito à pretensão punitiva ou, como prefere Eduardo Espínola Filho, apresentem conteúdo de direito substancial, i.e., atribuam, virtualmente, ao Estado ou a particulares o poder de disposição do conteúdo material do processo, isto é, da pretensão punitiva, ou da pena[9].
Por sua vez, na corrente ampliativa, as normas aqui estudadas seriam aquelas que, ultima ratio, digam respeito ao substantive due process. Daí Gustavo Badaró afirmar que para tal corrente doutrinária seriam normas híbridas aquelas que estabelecem condições de procedibilidade, constituição e competência dos tribunais, meio de prova e eficácia probatória, graus de recurso, liberdade condicional, prisão preventiva, fiança, modalidade de execução da pena e todas as demais normas que tenham por conteúdo matéria que seja direito ou garantia constitucional do cidadão[10].
Contrapondo as duas correntes doutrinárias, e mesmo adotando a linha mais restritiva de caracterização, é possível concluir que normas processuais que tratem da pretensão punitiva apresentam típico caráter de regra de direito material e, portanto, estariam sujeitas também ao regime jurídico de normas dessa natureza, incluindo aí a possibilidade de aplicação retroativa, apenas nas hipóteses em que beneficie o réu ou acusado. Esse é o entendimento dos nossos Tribunais Superiores:
1. RECURSO. Extraordinário. Pedido. Inconstitucionalidade do art. 411 do Código de Processo Penal. Dispositivo revogado pela Lei n° 11.689/2008. Perda superveniente do interesse recursal. Recurso prejudicado. O pedido da recorrente está prejudicado ante a revogação do art. 411, do Código de Processo Penal, pela Lei n° 11.689/2008, que introduziu, no art. 415, novas regras para a absolvição sumária nos processos da competência do Tribunal do Júri. 2. AÇÃO PENAL. Tribunal do Júri. Absolvição sumária imprópria. Revogação do art. 411, do Código de Processo Penal, pela Lei n° 11.689/2008. Retroatividade da lei mais benéfica. Concessão de habeas corpus de ofício. As novas regras, mais benignas, aplicam-se retroativamente. Ordem concedida para que o juízo de 1º grau examine, à luz da nova redação, se estão presentes os requisitos para a absolvição sumária, oportunizada prévia manifestação da defesa. (RE n. 602.561/SP – São Paulo. Recurso Extraordinário. Relator: Min. CEZAR PELUSO. Julgamento: 27/10/2009 Órgão Julgador: Segunda Turma).
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL LEVE E GRAVE. REPARAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA PREVISTA NO ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NORMA DE DIREITO PROCESSUAL E MATERIAL. IRRETROATIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A regra do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que dispõe sobre a fixação, na sentença condenatória, de valor mínimo para reparação civil dos danos causados ao ofendido, é norma híbrida, de direito processual e material, razão pela que não se aplica a delitos praticados antes da entrada em vigor da Lei n.º 11.719/2008, que deu nova redação ao dispositivo. Precedentes da Quinta Turma. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1254742/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 05/11/2013)
PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. RÉU REVEL. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO LAPSO PRESCRICIONAL. CRIME COMETIDO ANTES DA LEI 9.271/96. INAPLICABILIDADE. Reiterada jurisprudência desta Corte no sentido de que as disposições do art. 366 do CPP, com a sua nova redação dada pela Lei 9.271/96, sendo norma de natureza híbrida, processual (suspensão do processo) e material (suspensão da prescrição), não podem ser cindidas, sendo inaplicável por inteiro o citado dispositivo legal às infrações cometidas antes da vigência da Lei 9.271/96. Precedentes. Recurso conhecido e provido. (REsp 280.656/RJ, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2001, DJ 04/06/2001, p. 227)[11]
Ao se analisar os casos julgados pelo Carf e, portanto, sujeitos à regra do art. 19-E da Lei nº 10.522/02, é possível observar que há a apreciação da imposição de sanções (de natureza tributária ou não), como dito anteriormente, e, ao assim fazer, o Tribunal define a exequibilidade da pretensão punitiva daí decorrente. Em outras palavras, a sua decisão definitiva é condição objetiva de punibilidade dos agentes autuados. Sem tal manifestação judicativa, não é possível cobra a pena (multa) imposta pelo Estado.
Esse entendimento, ressalte-se, encontra amparo na jurisprudência do STF, em especial nos precedentes que orientaram a Súmula Vinculante nº 24[12]. Nesse sentido, por exemplo, o voto do Ministro Gilmar Mendes, no HC nº 102.477, pontua que o “a decisão definitiva do processo administrativo consubstancia condição objetiva de punibilidade”, ou o HC 81.611, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, que aduz que “se considere o lançamento definitivo uma condição objetiva de punibilidade”.
Ora, não se nega que os precedentes em questão foram julgados para analisar a procedibilidade de denúncias de crimes contra a ordem tributária, mas seus fundamentos descortinam a natureza jurídica da decisão definitiva dos processos administrativos. Se a decisão final em processo tributário é condição para a aplicação das sanções penais decorrentes dos crimes capitulados no art. 1º da Lei nº 8.137/90[13], é inegável que as sanções de natureza administrativa (tributárias ou não), constituídas por meio de ato administrativo, só poderão ser exigidas após a decisão definitiva no processo administrativo sancionatório, razão pela qual ela se põe como condição objetiva da punibilidade do agente.
Em suma, ao mesmo tempo que o art. 19-E da Lei nº 10.522/02 veicula uma norma de direito processual, ele também encerra, nos casos em que há exigências de caráter sancionatório (multas), natureza processual híbrida, na medida em que condiciona a exequibilidade da pretensão punitiva do Estado. Ainda que a incidência normativa se dê com o ato administrativo que imputou a sanção, a sua exequibilidade, em havendo contestação, fica condicionada ao conteúdo da decisão definitiva no processo administrativo.
Portanto, em se tratando de norma dessa natureza, entendemos que ela deverá retroagir para abranger apenas as exigências de caráter sancionatório, tributárias ou não, cobradas conjunta ou separadamente de tributos, que foram mantidas, no âmbito do Carf, por meio de decisão final proferida pelo voto de qualidade, e que prosseguem sendo cobradas judicialmente, na esteira de diversos precedentes dos tribunais superiores, e por força da retroatividade benigna do art. 5º, XL, da Constituição Federal de 1988[14], excepcionadora do caráter prospectivo da eficácia de normas processuais deste jaez. Não obstante, ante tudo o que fora aqui afirmado, não nos parece que tal retroatividade não se aplicaria para a cobrança de crédito tributário decorrente de tributos, mesmo que tenha sido mantido por meio do voto de qualidade.
Por fim, em uma abordagem próxima, ainda que não coincidente àquela perfilhada aqui, defendendo os reflexos do art. 19-E da Lei nº 10.522/02 no âmbito dos processos penais de crimes contra a ordem tributária, remetemos ao artigo de Fernando Hideo I. Lacerda, no qual defendeu a retroatividade da regra, afirmando que com o fim do voto de qualidade, operou-se abolitio criminis referente a todas as condutas que à época foram julgadas ilícitas pelo Carf e, segundo os critérios da lei atual, passaram a ser resolvidos favoravelmente ao contribuinte[15].
Carlos Augusto Daniel Neto é sócio do Daniel & Diniz Advocacia Tributária, doutor em Direito Tributário pela Universidade de São Paulo (USP), mestre em Direito Tributário pela PUC-SP, ex-conselheiro titular da 1ª e 3ª Seções do Carf, e professor em cursos de pós-graduação.”
Diego Diniz Ribeiro é advogado tributarista, sócio do Daniel & Diniz Advocacia e Consultoria Tributária, ex-conselheiro titular do Carf na 3ª Seção de Julgamento, professor de Direito Tributário, Processo Tributário e Processo Civil. Doutorando em Processo Civil pela USP e Mestre em Direito Tributário pela PUC-SP e pós-graduado em Direito Tributário pelo Ibet.


 Cumpre destacar que em coluna anterior, Diego Diniz Ribeiro teve a oportunidade de analisar a tributação de tais contratos sob a ótica da incidência ou não de PIS e Cofins
Cumpre destacar que em coluna anterior, Diego Diniz Ribeiro teve a oportunidade de analisar a tributação de tais contratos sob a ótica da incidência ou não de PIS e Cofins
 Em um primeiro momento, é importante observar, além da legislação estadual, a legislação dos municípios em que a empresa está estabelecida, tendo em vista que cabe a estes regulamentar acerca das normas específicas que deverão ser adotadas na sua extensão, de acordo com a realidade da região a que pertencem.
Em um primeiro momento, é importante observar, além da legislação estadual, a legislação dos municípios em que a empresa está estabelecida, tendo em vista que cabe a estes regulamentar acerca das normas específicas que deverão ser adotadas na sua extensão, de acordo com a realidade da região a que pertencem.