Na pandemia, vivemos um estado de calamidade pública, mas não estado de exceção, o qual ocorre fora de qualquer normalidade [1]. Esse estado de emergência é regulado por uma série de normas, que mantêm contato com a ordem anteriormente estabelecida, e isso vale para a ordem internacional de proteção ao trabalhador, representada pela OIT. Alguns Estados europeus, após sentirem os reflexos de não conter a propagação do coronavírus, foram obrigados a bloquear grande parte de suas economias e recuaram em seu abstencionismo inicial. O Reino Unido anunciou que pagaria até 80% dos custos salariais para quantas empresas precisassem da ajuda, sem limite para o valor total dos gastos públicos.
 Há o exemplo da Alemanha, no qual o governo assumiu a situação de factum principis pagando pelos empregados colocados em quarentena. Na Espanha, na Itália e em Portugal, o Estado ingressou rapidamente com medidas supletivas para compensar as perdas salariais. No Brasil assistimos a edições de sucessivas medidas provisórias: 927, 928, 936, entre outras, além da elaboração de um plano suplementar de remuneração para informais chamado de “coronavoucher”. Todos concordam que o futuro do trabalho de todo o mundo globalizado será afetado nos seus aspectos econômicos, sociais e de desenvolvimento. A resposta apropriada será a urgente, coordenada em uma escala global, devendo proporcionar ajuda imediata aos mais necessitados para salvaguardar vida e a saúde, como política pública essencial.
Há o exemplo da Alemanha, no qual o governo assumiu a situação de factum principis pagando pelos empregados colocados em quarentena. Na Espanha, na Itália e em Portugal, o Estado ingressou rapidamente com medidas supletivas para compensar as perdas salariais. No Brasil assistimos a edições de sucessivas medidas provisórias: 927, 928, 936, entre outras, além da elaboração de um plano suplementar de remuneração para informais chamado de “coronavoucher”. Todos concordam que o futuro do trabalho de todo o mundo globalizado será afetado nos seus aspectos econômicos, sociais e de desenvolvimento. A resposta apropriada será a urgente, coordenada em uma escala global, devendo proporcionar ajuda imediata aos mais necessitados para salvaguardar vida e a saúde, como política pública essencial.
Nesse sentido, a OIT mantém orientações gerais aos países-membros, e esse é o ponto central deste artigo. Elencamos algumas diretrizes básicas da OIT: a centralidade do olhar no ser humano que trabalha. Ou seja: a abordagem ao futuro do trabalho centrada no ser humano. Esta centralidade depende de um olhar voltado para a centralidade do trabalhador no presente, na preservação de seu emprego e renda, na proteção deste trabalhador, de sua renda mínima e de suas famílias, enquanto perdurar o período de isolamento social. Isso tudo observadas as diretrizes recentes para a manutenção, dentro do possível, do trabalho decente para que se atinja estabilidade, a paz e a resiliência. O método para a realização desses objetivos, para a OIT, como sempre é método relacional, apontado pela OIT como “diálogo social”. Entendemos que esse método é a expressão de um paradigma fraternal, explícito na Constituição da OIT, implícito no seu discurso, prática, na sua história e nas normas para assegurar, mesmo em meio à crise, o trabalho decente em situações de desastre como aponta a recente Recomendação 205, de 2017.
Centralidade do ser humano que trabalha, a principal orientação
A organização pede respostas políticas rápidas e coordenadas em nível nacional e global, com forte liderança multilateral, para limitar os efeitos diretos de saúde da Covid-19 sobre os trabalhadores e suas famílias. O mundo enfrenta um choque econômico e do mercado de trabalho, que afeta não apenas a oferta (produção de bens e de serviços), mas também a demanda (consumo e investimento). As interrupções na produção, inicialmente na Ásia, espalharam-se pelas cadeias de suprimentos em todo o mundo. Entretanto, como tem se afirmado, é um falso dilema salvar vidas ou salvar a economia.
Obviamente a OIT no seu centenário, em 2019, aponta para a centralidade do ser humano no mundo do trabalho. A centralidade do ser humano para um futuro do trabalho, (e agora para o presente do trabalho diante da Covid-19), segundo a Declaração do Centenário da OIT de 2019, requer as seguintes medidas [2]: aumentar a capacidade de resiliência de empregados e empregadores, um reforço às instituições e a manutenção da dignidade do trabalhador. Na crise da pandemia pode-se verificar que o reforço das capacidades do trabalhador se dá por qualificações para a adaptação ao trabalho remoto, ou mesmo para o exercício concomitante de trabalho domiciliar; o reforço às instituições se dá pela proteção às pequenas e médias empresas, reforço do papel dos sindicatos e, por fim, o trabalho digno se dá, em uma apertada síntese, pela justa remuneração em momento de suspensão das atividades.
O significado dessa centralidade do homem que trabalha, em meio à crise pandêmica, é determinado em concreto por cada Estado, em cada setor, e, no plano micro, na execução do contrato de trabalho com novas regras e formulações. Inclui-se aqui a proteção do trabalhador informal, normalmente à margem de qualquer proteção social. Nesses termos a OIT recorda sua atuação flexível, que encoraja o atendimento das diversas necessidades específicas de cada país, sobre uma base de diálogo social. Manter a centralidade do ser humano no caso da pandemia que presenciamos exige que, nos locais de trabalho, nas empresas, nas economias nacionais às globais, seja necessário diálogo social entre governos e os que estão na linha de frente — empregadores e trabalhadores. Ainda assim, outros atores são fundamentais para manter-se a estabilidade, a democracia e a resiliência.
Evidencia-se o papel dos sindicatos, os quais estão chamados a intervir positivamente para manter negociações diretamente com empregados e empresas, via acordos coletivos. O Judiciário, registra-se no caso brasileiro, também é ator importante, porquanto atento à condição de crise, chamado a dar uma resposta rápida e positiva para as mais de 158 ações já ajuizadas na primeira semana da decretação do estado de calamidade. Nesse sentido, o Conselho Nacional de Justiça, criou um observatório nacional para o enfrentamento do problema [3]. As ações judiciais pleiteando direitos se multiplicam e o Judiciário, mesmo em trabalho remoto, continua numa grande produtividade para implementar direitos e garantir direitos violados.
Trabalho decente e o ‘desastre do coronavírus’
A Declaração do Centenário da OIT reafirma o compromisso com todas as expressões de direitos humanos do trabalhador e o coloca a dignidade de quem trabalha e agora está afastado do trabalho, como aspecto central a ser considerado em todas as medidas sociais, econômicas e jurídicas. Nesse contexto de crise, o que a OIT aponta é para a necessidade de um trabalho decente definido como “aquele desenvolvido em ocupação produtiva, justamente remunerada e que se exerce em condições de liberdade, equidade, seguridade e respeito à dignidade da pessoa humana” [4]. Recentemente, atualizando esse conceito, a OIT emitiu a Recomendação 205 — Recomendação de emprego e trabalho decente para a paz e a resiliência, 2017 (nº 205), considerando o impacto e as consequências que os conflitos e desastres têm sobre pobreza e desenvolvimento, direitos humanos e dignidade, trabalho decente e negócios sustentáveis. Por esse documento, Recomendação 205 da OIT, a situação vivenciada por todo o mundo referente à pandemia pode ser classificada como um desastre em proporções globais. Para a OIT:
a) o termo “desastre” designa uma perturbação grave do funcionamento de uma comunidade ou sociedade em qualquer escala, devido a fenômenos perigosos que interagem com as condições de exposição, vulnerabilidade e capacidade, causando um ou mais dos seguintes fatores: perdas e impactos humanos, materiais, econômicos e ambientais [5];
b) o termo “resiliência” designa a capacidade de um sistema, comunidade ou sociedade exposta a uma ameaça de resistir, absorver, adaptar, transformar e recuperar seus efeitos de maneira oportuna e eficiente, principalmente através da preservação e restauração de suas estruturas e funções básicas através do gerenciamento de riscos.
A Recomendação 205 da OIT designa que o termo “resposta a crises” faz referência a todas as medidas relacionadas ao emprego e trabalho decente que são tomadas para responder a situações de crise causadas por conflitos e desastres. Portanto, o que a OIT enfatiza no caso do coronavírus é que: primeiro, estamos diante de um desastre de grandes proporções, segundo a terminologia da Recomendação 205; segundo, atente-se para a manutenção, dentro das possibilidades, do trabalho decente para os trabalhadores.
Entre alguns aspectos do trabalho decente, um dos mais relevantes para a manutenção da paz social e resiliência é a questão da justa remuneração ou de supletivamente de uma rede que sustente o trabalhador, a partir da seguridade social, a fim de que se garanta um mínimo existencial, mantendo-se o foco na centralidade do ser humano na esfera produtiva, como salienta da Declaração do Centenário da OIT. Neste sentido, a Recomendação 205 da OIT estabelece alguns mecanismos estratégicos a serem adotados pelos Estados-membros para a manutenção do trabalho decente, sendo que o primeiro a ser destacado é a “estabilização dos meios de subsistência e da renda, através de medidas imediatas de emprego e proteção social”.
O trabalho decente em condições de crise só é possível pelo método do diálogo social, o qual possibilita a participação de entidades não governamentais, da sociedade, dos consumidores, dos sindicatos, e dá voz a trabalhadores marginalizados cujas expectativas mostram-se frequentemente esquecidas, externando quais são os limites das lutas e anseios laborais a serem privilegiados [6]. A OIT reafirma o caráter flexível de suas normas para sejam adaptadas da melhor forma nas legislações locais, visto que a supremacia do interesse público, no caso, as ações prioritárias de saúde e segurança devem ser enfocadas. Pelo que se observa das orientações da própria OIT, o trabalho decente nestes momentos da crise do coronavírus deve ser uma meta a ser perseguida, conforme aponta a Recomendação 205 da OIT, de 2017, sobre o emprego e trabalho decente para a paz e a resiliência.
Diálogo social e o paradigma fraternal no Brasil e na OIT
O momento exige uma concertação social, o que a OIT menciona como diálogo social, em que patrões, empregados e governos devem rever seus pactos para atingir um nível aceitável de solução a fim de garantir o bem maior que é a vida, a subsistência de todos. A vida deve ser garantida com a menor possibilidade de restrições econômicas e aqui estão os juízos de conveniência e oportunidade das medidas adotadas pelos governos, dos quais se exige que dialoguem com a sociedade para manutenção da paz, da dignidade dos trabalhadores e manutenção das empresas. No Brasil, o diálogo social preconizado pela OIT ainda pode ser suportado legal e teoricamente em função de um telos, uma sociedade fraterna prevista constitucionalmente. A referência da Constituição Federal à sociedade fraterna expressa uma especial forma de positivação do princípio da fraternidade na Constituição da República Federativa do Brasil, a qual refere, no preâmbulo:
“Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil” (grifo das autoras).
Para o jurista brasileiro Carlos Augusto Alcântara Machado, há um dever de que a ordem jurídica construa uma sociedade fraterna, com base na força normativa do preâmbulo [7].Portanto, no Brasil o comando do Direito Constitucional Fraternal indica um caminho de diálogo, também pretendido pela OIT, e esse deve ser o vetor interpretativo deste momento de calamidade. Do mesmo modo, a Constituição da OIT assinala uma tendência para o paradigma fraternal. O preâmbulo da Constituição da OIT é verdadeiro tratado fraternalista em matéria de relações de trabalho porque diz que o trabalho não é mercadoria o que reforça a centralidade do ser humano que trabalha.
Porém, articulando esses tópicos sobre direitos fundamentais no trabalho, trabalho decente e diálogo social, neste momento, a justiça social fraternal significa prioritariamente a manutenção da renda para a sobrevivência dos trabalhadores e suas famílias. Caso contrário todos os trabalhadores estarão sujeitos à escravidão da necessidade, à desigualdade trazida pela miséria e o trabalho não se dará de forma justa e em condições de seguridade. Sem renda, estaremos diante de um trabalho “não decente”.
Considerações finais
Veja-se que a evolução da OIT, com sua característica tripartite e ênfase no diálogo, determina no tratamento da questão social a aproximação dos três princípios maiores do patamar civilizatório: liberdade, igualdade e fraternidade. Seguir esses princípios, mais que em outros tempos, é a diretriz da OIT para que se ataque em conjunto a pandemia da Covid-19. Como refere o diretor-geral da OIT, Guy Ryder, em 7 de abril, ao enunciar que as medidas adotadas devam ser as mais seguras e sustentáveis, estamos vivendo o maior teste para a cooperação internacional já vivido nos últimos 75 anos.
Neste momento, ações planetárias revelam que a fraternidade, esquecida desde a Revolução Francesa, necessita ocupar seu lugar como norte da ação humana em âmbito político e jurídico. Por isso são essenciais as medidas de transferência de renda aos particulares, no termos da legislação da pandemia representadas pelo BEM e pelo “coronavoucher”, para superar-se com resiliência o desastre do coronavírus. Por fim, o paradigma fraternal da OIT incentiva a concertação social com o uso do diálogo social entre governos, trabalhadores e empregadores, de modo que se encontrem as melhores soluções, no âmbito da sociedade e do Estado, ainda que rápidas, para resiliência, paz social e justiça social em meio à pandemia.
Referências bibliogáficas
CNJ — Portaria CNJ nº 57, de 20/3/2020 — Inclui no Observatório Nacional sobre Questões Ambientais, Econômicas e Sociais de Alta Complexidade e Grande Impacto e Repercussão o caso Coronavírus — Covid-19. https://paineisanalytics.cnj.jus.br/single/?appid=ba21c495-77c8-48d4-85ec-ccd2f707b18c&sheet=b45a3a06-9fe1-48dc-97ca-52e929f89e69&lang=pt-BR&opt=currsel&select=clearall
MACHADO, Carlos Augusto Alcântara. A fraternidade como categoria jurídica. Curitiba: Appris, 2017
OIT — https://www.ilo.org
VOSKO, Leah F. Decent Work: The Shifting Role of the ILO and the Struggle for Global Social Justice. http://gsp.sagepub.com/content/2/1/2019
[1] No Brasil, o Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, do Congresso Nacional, reconheceu o estado de calamidade pública.
[6] VOSKO, Leah F. Decent Work : The Shifting Role of the ILO and the Struggle for Global Social Justice. http://gsp.sagepub.com/content/2/1/19
[7] MACHADO, Carlos Augusto Alcântara. A fraternidade como categoria jurídica. Curitiba: Appris, 2017


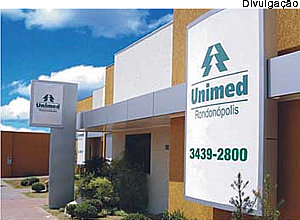
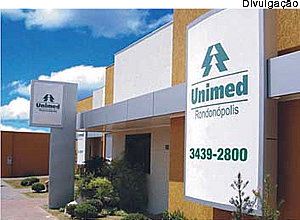


 As práticas de desinformação hoje constituem atividade cada vez mais organizada, sofisticada, e que vêm contando com mais recursos, tanto financeiros como tecnológicos. O resultado é o aumento do desafio para quem queira combater as fake news, que não só aumentam em termos de quantidade, mas em novos formatos que vêm sendo utilizados.
As práticas de desinformação hoje constituem atividade cada vez mais organizada, sofisticada, e que vêm contando com mais recursos, tanto financeiros como tecnológicos. O resultado é o aumento do desafio para quem queira combater as fake news, que não só aumentam em termos de quantidade, mas em novos formatos que vêm sendo utilizados. 
