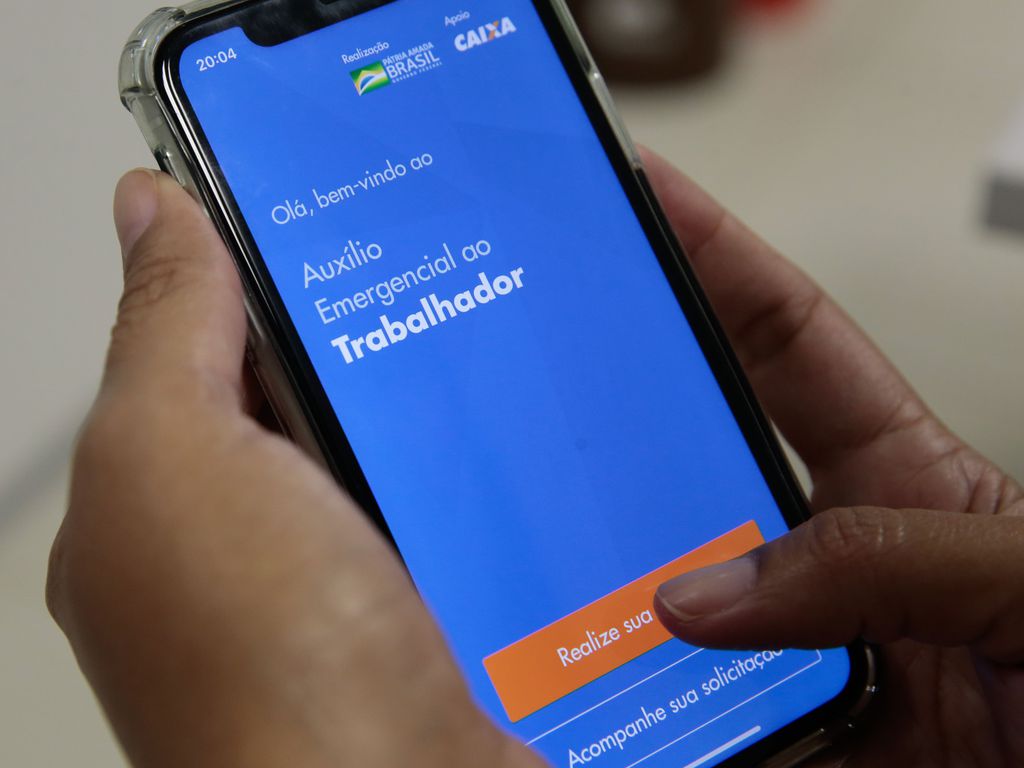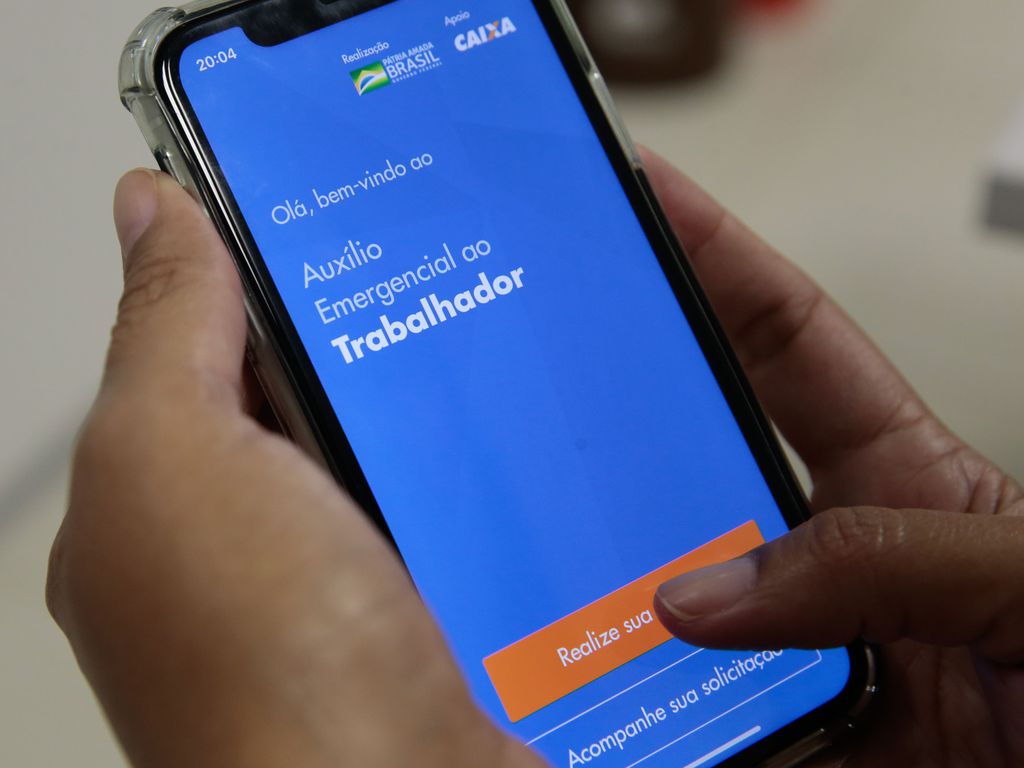Diversos tribunais brasileiros estão a aderir às tecnologias e aos meios digitais para garantir a continuidade do direito de acesso à Justiça, principalmente após a prorrogação da suspensão de atividades presenciais nas diferentes esferas do Poder Judiciário em razão da pandemia da Covid-19.
 Os esforços empregados são louváveis, a exemplo da possibilidade de realização de sustentação oral por videoconferência na sessão virtual de julgamento de recursos. Implementada após reivindicação dos órgãos representativos da advocacia, a medida proporciona o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa em uma de suas manifestações mais importantes. Da mesma forma, vêm sendo realizadas audiências de conciliação em processos judiciais em andamento, principalmente nos CEJUSCs (Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania), o que garante a possibilidade de uma solução célere e efetiva para as partes envolvidas em determinado conflito.
Os esforços empregados são louváveis, a exemplo da possibilidade de realização de sustentação oral por videoconferência na sessão virtual de julgamento de recursos. Implementada após reivindicação dos órgãos representativos da advocacia, a medida proporciona o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa em uma de suas manifestações mais importantes. Da mesma forma, vêm sendo realizadas audiências de conciliação em processos judiciais em andamento, principalmente nos CEJUSCs (Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania), o que garante a possibilidade de uma solução célere e efetiva para as partes envolvidas em determinado conflito.
No entanto, é com menos entusiasmo que verificamos as tentativas de imposição de audiências virtuais para a realização de atos de instrução em processos criminais. No mesmo sentido, as sustentações orais não podem se limitar ao simples envio de um arquivo de vídeo, sem possibilidade de interação ao vivo com os(as) julgadores(as). A celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional, naturalmente, não podem se sobrepor aos princípios inerentes ao devido processo legal.
Primeiramente, em qualquer ato do processo, deve ser garantido o direito de comunicação prévia e reservada do réu com a defesa — sendo ela constituída pela Defensoria Pública ou por advogado(a) particular. Dessa forma, um primeiro questionamento que se pode levantar diz respeito a como será garantido o direito de entrevista dos acusados e acusadas que se encontrem presos(as), sem impor um risco à sua saúde ou à do próprio advogado(a), que precisa se deslocar ao estabelecimento prisional. Convém ressaltar que o(a) advogado(a) criminalista sabe que, na prática, o § 5º do artigo 185 do Código de Processo Penal não contém resposta alguma para a questão, pois não há garantia real do sigilo das comunicações virtuais em tempos em que a própria plataforma Zoom — uma das mais utilizadas no mundo — mostrou-se vulnerável a problemas de segurança e privacidade [1].
Mais do que isso, é necessário refletir sobre a importância dessa comunicação entre réu e defesa não apenas como um ato formal prévio à audiência, mas também durante os atos de instrução. É comum, em uma audiência presencial de oitiva de testemunhas, por exemplo, que o(a) acusado(a) participe ativamente de sua defesa, apontando ao(à) advogado(a) a necessidade de solicitar maiores esclarecimentos da testemunha sobre determinada questão e até mesmo indicando a possibilidade de a testemunha estar faltando com a verdade. A participação do réu em audiência auxilia o trabalho técnico do(a) advogado(a) no momento de coleta da prova, e colabora decisivamente para a efetividade do exercício de sua defesa. Em uma audiência por videoconferência, não há como assegurar esse contato permanente entre réu e defensor(a), o que impede, portanto, que o acusado exerça adequadamente o seu direito de defesa, conforme o artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.
Por outro lado, salutar trazer ao debate os demais riscos da audiência virtual para a privacidade, o direito de imagem das partes e para a própria garantia de licitude da prova produzida. Quanto ao último item, já vêm sendo levantadas questões como a necessária identificação da testemunha e a (im)possibilidade de garantir a sua verdadeira identidade. Tampouco se pode garantir que a testemunha não está sendo instruída ou até mesmo ameaçada em tempo real. Além disso, no que tange aos dois primeiros temas — privacidade e direito de imagem —, precisamos admitir que não há nenhuma forma de assegurar que a audiência virtual não esteja sendo gravada por qualquer das partes ou pela própria testemunha, o que pode levar à publicização de atos atinentes a processos criminais e até mesmo à manipulação de falas e divulgação fora de contexto.
Sobre o tema, a OAB-RJ já se manifestou contrariamente à realização de audiências de instrução pelo meio virtual, sugerindo a promoção de videoconferência somente quando se tratar de audiência de conciliação [2]. Alinhamo-nos ao posicionamento da seção carioca da Ordem dos Advogados do Brasil, desde que se assegure um mínimo de segurança na identificação das partes e procuradores(as) que participarão do ato.
Quanto às sustentações orais por videoconferência, temos muito claramente que essa possibilidade proporcionada pela tecnologia veio para ficar, sobretudo em um país continental como o Brasil. Evitar longos deslocamentos para, não raras vezes, participar por poucos minutos de um ato judicial parece não fazer mais sentido quando é possível, por meio de instrumentos adequados, realizar a mesma atividade à distância, em tempo real, e com ampla possibilidade de participação no julgamento. Diferentemente das audiências de instrução, o(a) advogado(a) não estabelece comunicação com o cliente durante o ato da sustentação em si, mesmo nas sessões de julgamento presenciais.
Todavia, o exercício da advocacia não poderá ficar restrito ao envio de vídeos previamente gravados para exibição no momento do julgamento. A garantia da ampla defesa exige que a participação do(a) advogado(a) deve ocorrer em tempo real, com possibilidade de pedir a palavra e realizar esclarecimentos sempre que necessário, como corriqueiramente ocorre em julgamentos presenciais. Não raro a intervenção efetiva da defesa durante o julgamento determina uma mudança de rumos na decisão de um caso, e é justamente isso que deve ser assegurado: que o advogado e a advogada tenham pleno acesso ao julgamento, em tempo real, nos mesmos moldes do julgamento presencial, ou seja, com ampla possibilidade inclusive de “usar da palavra, pela ordem, (…) mediante intervenção sumária, para esclarecer equívoco ou dúvida surgida em relação a fatos, documentos ou afirmações que influam no julgamento, bem como para replicar acusação ou censura que lhe forem feitas” (artigo 7º, inciso X, do Estatuto da Advocacia e da OAB).
Importante ressaltar que o Brasil não está isolado nesse cenário: recente matéria da ConJur sobre pesquisa realizada pela Global Access to Justice aponta que a maioria dos 51 Estados investigados não facilitou o acesso à Justiça durante a pandemia. Apesar de 78% dos países terem empregado algum tipo de tecnologia no sistema de Justiça, como forma de evitar o contato físico entre os atores jurídicos e as partes, nada menos do que “65% dos estados simplesmente não adotaram medidas especiais para facilitar o atendimento de novas demandas e (…) em 78% deles não há medidas para evitar o acúmulo de processos com longo período de espera após passada a crise” [3].
Tão importante quanto garantir o atendimento de novas demandas é assegurar que as demandas em tramitação não coloquem em risco a liberdade dos acusados com o comprometimento de seu direito de defesa. Importante posicionamento, nesse sentido, foi adotado pelo Conselho Federal da OAB ao se insurgir quanto à regra prevista no parágrafo 3º do artigo 2º da Resolução 642/2019 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece que, nos julgamentos realizados em sessão virtual, “considerar-se-á que acompanhou o relator o ministro que não se pronunciar no prazo” de cinco dias [4]. Acertadamente, o CFOAB apresentou requerimento em 19 de maio para que os votos dos ministros que não se manifestarem sejam computados como abstenções, e não como acompanhamento do voto do relator. Tão simples quanto nos julgamentos presenciais, em que se exige manifestação expressa dos demais julgadores, seria plenamente possível inserir um comando de “acompanhar voto do relator” no sistema, pelo menos como forma de assegurar que aquele processo foi efetivamente acessado pelos julgadores. Isso não seria garantia de muita coisa, é verdade, mas seria, pelo menos, um indicativo de que não seria necessário aumentar a desconfiança do jurisdicionado sobre a real atenção dada a um caso seu.
Dentro dos limites deste artigo, não se tem a pretensão de encontrar todas as soluções. No entanto, mais do que respostas, são os questionamentos que nos possibilitam refletir e, se for o caso, aprimorar as nossas áreas do saber. No que tange à utilização de tecnologias — com segurança — para garantir o acesso à Justiça, vale repisar: somos, efetivamente, favoráveis. Contudo, no âmbito do processo penal, não se pode impor novos procedimentos ao arrepio da lei e da Constituição. É preciso tomar cuidado com perspectivas de um sistema de Justiça orientado à eficiência e à produtividade, mormente se essa eficiência serve — e normalmente serve — para justificar o atropelamento de direitos e garantias individuais.
Fernanda Osorio é sócia do escritório Achutti Osorio Advogados, professora de Direito Penal da Escola de Direito da PUC-RS, mestre em Ciências Criminais pela PUC-RS e diretora de cursos da Escola Superior de Advocacia da OAB-RS.
Daniel Achutti é sócio do escritório Achutti Osorio Advogados, professor do PPG em Direito da Universidade La Salle (RS), mestre e doutor em Ciências Criminais pela PUC-RS.
Laura Gigante Albuquerque é advogada no escritório Achutti Osorio Advogados, professora de Direito Processual Penal da Universidade La Salle (RS) e mestre em Ciências Criminais pela PUC-RS.