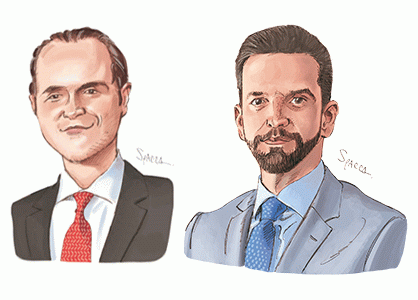Na última madrugada do dia 13 para o dia 14 de maio, foi publicada a Medida Provisória n. 966/2020, que dispôs, em seu artigo 1º, que “somente poderão ser responsabilizados nas esferas civil e administrativa se agirem ou se omitirem com dolo ou erro grosseiro pela prática de atos relacionados, direta ou indiretamente, com as medidas de:
I — enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia da covid-19; e II — combate aos efeitos econômicos e sociais decorrentes da pandemia da covid-19.
Ao mencionar “esferas civil e administrativa”, a norma tornou clara sua abrangência, a contemplar as searas sancionadoras disciplinar e de improbidade — pondo a salvo, naturalmente (artigo 62, § 1º, I, b), a dimensão criminal. Por conta disso, nos inspiramos a dedicar este texto ao exame do novo diploma.
Já tivemos a oportunidade de mencionar neste espaço[1] o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de somente admitir, nos tipos ímprobos que admitem a modalidade culposa, a culpa grave (AIA 30) — nada obstante, também pontuamos que, a despeito daquele julgado emanado da Corte Especial, decisões das Turmas da Primeira Seção seguiram placitando condenações por improbidade sob o fundamento de uma espécie de culpa/dolo genéricos.[2]
Em linha com o julgado da Corte Especial, o artigo 28 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro seria incluído pela Lei 13.655/2018, tendo sua regulamentação dada pelo Decreto n. 9.830/2019, de cujo artigo 12 constou que “O agente público somente poderá ser responsabilizado por suas decisões ou opiniões técnicas se agir ou se omitir com dolo, direto ou eventual, ou cometer erro grosseiro, no desempenho de suas funções.”
Essas lembranças são testemunhas de que, no passado recente, iniciativas diversas têm convergido para estremar da seara sancionadora o simples equívoco, enfocando somente a má-fé evidente ou o erro inescusável — talvez, um novo capítulo se avizinhe se aprovado o Projeto de Lei n. 10.887/2018, que finalmente fulmina a modalidade culposa nos tipos ímprobos.
No caso específico da MP 966, o que se percebe, como corolário daquelas preocupações que já vinham se evidenciando, é uma reiteração mais rigorosa, à luz da extraordinariedade da atual conjuntura, da proteção que merece ser conferida ao gestor[3] que, em contexto extremo, porventura incorra em erro simples, com bem pontuou em artigo[4] recente Floriano de Azevedo Marques Neto:
Notícias dão conta de irregularidades na aquisição, pela Administração Pública, de insumos de saúde para combater a Covid-19: superfaturamento, pagamento antecipado, equipamentos não entregues. Em condições normais, seriam irregularidades graves. Porém, o combate a uma pandemia não é normal. É preciso separar atos inusuais, mas necessários diante da urgência, de atos deliberadamente ímprobos, a serem punidos com rigor.
A excepcionalidade justificadora da referida MP também foi endereçada em sua exposição de motivos[5], que deliberadamente fez menção a uma camada adicional de proteção frente à LINDB:
5. Note-se que, apesar das recentes alterações, em 2018, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942) e da sua pronta regulamentação (Decreto nº 9.830, de 10 de junho de 2019) representarem importantes aparatos de proteção para uma atuação responsável e independente do agente público, o estado de calamidade que se vive no momento e condições nas quais o processo decisório se desenvolve demonstram que as regras referidas são insuficientes.
6. O agente público, hoje, para salvaguardar vidas e combater os efeitos econômicos e fiscais da população brasileira se vê diante de medidas que terão impactos fiscais extraordinários para as futuras gerações, de compra de equipamentos por preços que, em situação normal, não se julgaria ideal, de flexibilizações na interpretação de regras orçamentárias que antes pareciam indiscutíveis, dentre outras. Em suma, hoje, o gestor se vê diante de vários choques negativos estruturais simultâneos, da dificuldade de previsibilidade de cenários e de situações que lhe demandam decisões contrárias a parâmetros antes conhecidos.
Essas preocupações não se dão sem razão. Nos últimos anos, a seara sancionadora observou uma matriz de responsabilização que, não raro, vislumbrava ações ou omissões pelo retrovisor, desconsiderando as peculiaridades que enredavam o ato em sim. Trata-se de análise privilegiada, que usufrui a perspectiva do todo, mas que não raro ignora o erro como resultado de uma tentativa de acerto, possuindo assim aptidão para sancionar até a boa-fé.
Como resultado da disseminação de ações de improbidade daquele jaez, tornou-se inevitável conjecturar que bons quadros podem ter sido afastados do serviço público ou que gestores, hoje, prefiram a inação ou deslocar para o Judiciário a determinação das medidas a serem adotadas. Em outras palavras, os efeitos colaterais produzidos por uma desmedida persecução sancionadora podem ter, pela carga da dose, transformado o remédio em veneno.
Por isso nossa percepção positiva da criteriologia trazida pela referida MP ao dizer, em seu artigo 2º, considerar “erro grosseiro o erro manifesto, evidente e inescusável praticado com culpa grave, caracterizado por ação ou omissão com elevado grau de negligência, imprudência ou imperícia.”
O artigo 3º, de sua vez, aprofunda a clareza ao mencionar que na aferição do erro grosseirão serão considerados: “I – os obstáculos e as dificuldades reais do agente público; II – a complexidade da matéria e das atribuições exercidas pelo agente público; III – a circunstância de incompletude de informações na situação de urgência ou emergência; IV – as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação ou a omissão do agente público; e V – o contexto de incerteza acerca das medidas mais adequadas para enfrentamento da pandemia da covid-19 e das suas consequências, inclusive as econômicas.”
A norma, a nosso ver, dialoga bem com o artigo 22 da LINDB e fornece uma boa calibragem da matriz de responsabilização em razão de atos praticados no contexto da pandemia de COVID-19, objetivando a análise do elemento subjetivo indispensável à prática de improbidade administrativa.
Argumentos foram erigidos, é verdade, pondo em dúvida a constitucionalidade da referida MP.[6] Ainda que o tema seja absolutamente incipiente, não cremos seja a norma vulneradora da Constituição.
Em primeiro lugar, porque há urgência justificadora da via da MP, estando em curso pandemia que exige diariamente medidas as mais variadas sobre as quais há crivo permanente e atento. Se toda a teleologia da disciplina é a de fixar o atual estado de coisas como parametrizador da aferição posterior da legalidade de condutas, faz todo sentido que essa fixação se dê de imediato.
Em segundo lugar, sobre o caráter aberto de determinadas locuções empregadas na MP, diga-se que LINDB e jurisprudência do STJ já tinham na culpa grave medida de aferição do elemento subjetivo, tendo a norma objetivado, à luz do atual momento, de maneira mais detalhada em que consistiria a tal gravidade. A par disso, não deixa de chamar atenção que a Lei n. 8.429/1992 possui termos amplos, amplíssimos, frequentemente estendidos para apenar, de modo que nos parece equilibrado contrapeso a rechaçar improbidade em casos em que não se evidencie má-fé: termos abertos por termos abertos, o caso concreto conferirá ao julgador a significação que devam eles merecer.
Em terceiro lugar, e por fim, não divisamos nenhuma violação ou contradição com o artigo 37, § 6º, da Constituição: o direito de regresso do Estado contra agentes públicos segue sendo regressivo e subjetivo; o que há, apenas e tão somente, é, à vista de circunstâncias excepcionais, um temperamento da identificação de culpa.
Concluindo, e respeitando os posicionamentos contrários já externados, não vislumbramos na MP 966 uma espécie de salvo-conduto[7], de blindagem[8] ou de estímulo à impunidade. O que nos parece, isto sim, é haver um nivelamento que prestigia a presunção de boa-fé, ao mesmo tempo em que não desnatura a possibilidade — e importância — de que ilícitos desejados, graves e de má-fé recebam a devida censura. Punir, sim, a malícia e a culpa grosseira; mas também preservar aquele que, de boa-fé, mira o interesse público.



 É importante retomarmos o debate sobre a possibilidade do inquérito judicial atípico e sua inserção no sistema acusatório. Falemos, de novo, então, do IP n. 4.781, objeto de muitas polêmicas.
É importante retomarmos o debate sobre a possibilidade do inquérito judicial atípico e sua inserção no sistema acusatório. Falemos, de novo, então, do IP n. 4.781, objeto de muitas polêmicas.