Os 30 anos de trajetória do Ministro Marco Aurélio como integrante do Supremo Tribunal Federal, completados neste sábado (13/6), são marcados pelo semear de ideias e soluções, tanto no aspecto jurisprudencial quanto no processual.
 Exaltado pelos colegas na última sessão plenária da corte, o ministro viu o presidente do Supremo, Dias Toffoli, destacar que algumas das teses defendidas por ele, com o passar do tempo e a evolução da jurisprudência do tribunal, tornaram-se vencedoras.
Exaltado pelos colegas na última sessão plenária da corte, o ministro viu o presidente do Supremo, Dias Toffoli, destacar que algumas das teses defendidas por ele, com o passar do tempo e a evolução da jurisprudência do tribunal, tornaram-se vencedoras.
Do alcance do mandado de injunção à prisão em segunda instância, veja algumas teses defendidas pelo Ministro Marco Aurélio que em sua época foram votos vencidos, mas hoje configuram jurisprudência tranquila do Supremo Tribunal Federal.
1) Proibição de progressão de pena em crime hediondo
O assunto era definido pelo parágrafo 1º do artigo 2º da Lei dos Crimes Hediondos (Lei 8.072/1990), segundo o qual quem cometesse a prática da tortura, do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e do terrorismo deveria cumprir a pena integralmente em regime fechado. O ministro Marco Aurélio levantou a inconstitucionalidade no HC 69.657, julgado em 1992. A mudança jurisprudencial veio no HC 82.959, julgado em 2006.
No voto, o ministro apontou que a Lei dos Crimes Hediondos foi produzida não sob observância de uma coerente política criminal, mas sob o clima da emoção, “como se no aumento da pena e no rigor do regime estivessem os únicos meios de afastar-se o elevado índice de criminalidade”.
“Assentar-se a esta altura que a definição do regime e modificações posteriores não estão compreendidas na individualização da pena é passo demasiadamente largo implicando restringir garantia constitucional em detrimento de todo um sistema e, o que é pior, a transgressão a princípios tão caros em um Estado democrático como são os da igualdade de todos perante a lei o da dignidade da pessoa humana e o da atuação do Estado sempre voltada ao bem comum”, destacou.
Clique aqui para ler o voto
2) Impossibilidade de prisão do depositário infiel
“Se, de um lado, é certo que a Carta da República dispõe sobre a prisão do depositário infiel — artigo 5o, inciso LXVII —, de outro, afigura-se inaplicável o preceito. As balizas da referida prisão estão na legislação comum e, então, embora a norma inserta no artigo 652 do Código Civil seja posterior aos fatos mencionados, o mesmo não ocorre com a disciplina instrumental prevista no Código de Processo Civil”, escreveu o ministro sobre o tema.
O primeiro precedente vencido foi registrado no HC 72.131, de 1995. A mudança ocorreu em 2008, no HC 87.585. Assim, a única prisão civil possível no país passou a ser do devedor de pensão alimentícia, decorrente da efetiva introdução das regras do Pacto de São José da Costa Rica, assinado pelo Brasil.
Clique aqui para ler o voto
3) Impossibilidade da exigência de depósito como requisito de apreciação de recursos administrativos no INSS
A exigibilidade do depósito da multa, em certos casos, em face do montante e da situação econômico-financeira do infrator, acaba por impedir o direito de defesa. Não pode o Estado dar com uma das mãos e retirar com a outra. Foi com esse entendimento que o Ministro Marco Aurélio defendeu a impossibilidade de exigir depósito como requisito para apreciação de recursos administrativos no INSS.
A exigência estava prevista no parágrafo 1º do artigo 636 da Consolidação das Leis do Trabalho. O ministro ficou vencido quanto ao tempo inicialmente na ADI-MC 1.049, em 1995. A mudança jurisprudencial veio pelo RE 389.383, em 2007.
Clique aqui para ler o voto
4) Impossibilidade da exigência de depósito para apreciação de recursos administrativos no âmbito do Ministério do Trabalho
Da mesma forma como praticada em relação a recursos administrativos do INSS, vigia na CLT que recursos contra multas aplicadas pelos inspetores do trabalho só poderiam ser apreciados após depósito da totalidade da multa por aquele que foi tido como infrator.
“O que isso representa, pelo menos sob a minha óptica? Representa um óbice, em alguns casos, até mesmo ao exercício do direito de defesa, inviabilizando-se, portanto, desde que aquele apontado como infrator não tenha meios suficientes para a feitura do depósito, a interposição do próprio recurso”, destacou o ministro.
A regra estava prevista no parágrafo 6º do artigo 636 e foi primeiro contestada em voto vencido do ministro no RE 210.246, em 1997, com a mudança da jurisprudência na ADPF 156, em 2011.
Clique aqui para ler o voto
5) Impossibilidade da exigência de depósito como requisito de apreciação de recursos administrativos no âmbito do Carf
Nesse caso, o ministro estendeu o entendimento relacionado ao parágrafo 1º do artigo 636 da CLT à exigência de depósito para apreciação de recurso administrativo no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), conforme ditava o parágrafo 2º do artigo 33 do Decreto no 70.235/1972, com a redação dada pelo artigo 32 da Lei 10.522/2002.
“O pleito administrativo está inserido no gênero ‘direito de petição’ e este, consoante dispõe o inciso XXXIV do artigo 5º da Constituição Federal, é assegurado independentemente do pagamento de taxas. Trata-se aqui de algo que pode inviabilizar até mesmo o direito de defesa”, destacou, na ocasião.
Clique aqui para ler o voto
6) Efetividade do mandado de injunção no combate às omissões legislativas
O mandado de injunção é um instrumento jurídico que pode ser utilizado por qualquer cidadão que venha a se sentir prejudicado por eventuais omissões na legislação. Ainda em 1989, quando recém-promulgada a Constituição Federal, o Ministro Marco Aurélio defendeu em questão de ordem na MI 107 um alcance maior ao instrumento do que o praticado pelo STF.
“Impetra-se o mandado de injunção não para lograr-se simples certidão de omissão do poder incumbido de regulamentar o direito”, destacou. “Conclamo, por isso, o Supremo, na composição atual, a rever a óptica inicialmente formalizada”, disse. A mudança veio com o MI 670, cujo julgamento terminou em 2007.
O caso tratou de processos referentes ao direito de greve dos servidores públicos, previsto no artigo 37, inciso VII da Constituição, mas que ainda não foi regulamentado por lei específica. Pela via do mandado de injunção, a corte definiu que, enquanto não for elaborada tal regulamentação, valem as regras previstas para o setor privado (Lei nº 7.783/89).
Clique aqui para ler o voto
7) Prisão após o trânsito em julgado
É o caso mais recente, definido nas ADCs 43, 44 e 54, em 2019. Nelas, o Supremo Tribunal Federal mudou a orientação jurisprudencial para afirmar que a prisão só é possível após o trânsito em julgado da ação, prevalecendo a presunção de inocência consagrada pela Constituição Federal.
O Ministro Marco Aurélio ficou vencido em 2016, quando a prisão após condenação em segundo grau foi admitida pelo plenário do Supremo, no HC 126.292. Reiteradamente, defendeu que não se poderia potencializar o que fora decidido pelo pleno na ocasião. “Precipitar a execução da sanção importa antecipação de culpa, por serem indissociáveis”, destacou.
Clique aqui para ler o voto


 Diante desse quadro, os contribuintes passaram a encarar uma situação delicada, na qual seria necessário conservar seu caixa para pagamento de suas obrigações, sobretudo as obrigações com seus colaboradores. Grande parte das empresas brasileiras, portanto, passou a encarar a necessidade de decidir entre pagar os tributos ou a folha de pagamento. Por isso, tornaram-se frequentes ações pleiteando a suspensão dos tributos durante este período.
Diante desse quadro, os contribuintes passaram a encarar uma situação delicada, na qual seria necessário conservar seu caixa para pagamento de suas obrigações, sobretudo as obrigações com seus colaboradores. Grande parte das empresas brasileiras, portanto, passou a encarar a necessidade de decidir entre pagar os tributos ou a folha de pagamento. Por isso, tornaram-se frequentes ações pleiteando a suspensão dos tributos durante este período. Pertinente contextualizar que a abordagem contemporânea sobre saúde tem sua origem no período do pós-guerra, época em que foi constituída a Organização Mundial da Saúde (OMS). Rompeu-se com a tradição negativista que vigorava e conceituava a saúde como a ausência de doenças e passou a prevalecer a concepção positivista que a define
Pertinente contextualizar que a abordagem contemporânea sobre saúde tem sua origem no período do pós-guerra, época em que foi constituída a Organização Mundial da Saúde (OMS). Rompeu-se com a tradição negativista que vigorava e conceituava a saúde como a ausência de doenças e passou a prevalecer a concepção positivista que a define 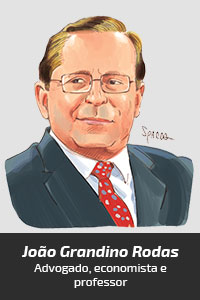
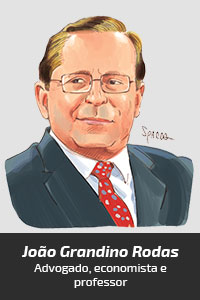 Os Cejuscs alcançaram o número de 1.088 nas Justiças Estaduais ao final do ano de 2018.
Os Cejuscs alcançaram o número de 1.088 nas Justiças Estaduais ao final do ano de 2018.