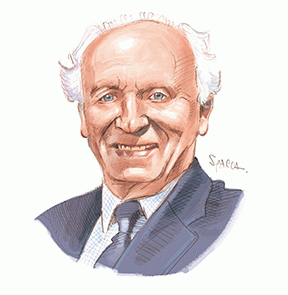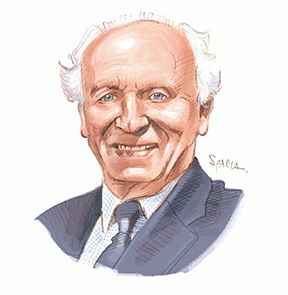Em 2004, quando deixou sua carreira diplomática, Rubens Ricupero — diplomata e ministro da Fazenda quando da implantação do Plano Real — tinha se acostumado com a posição de prestígio alcançada pela política externa brasileira. Historiador e formado em Direito pela USP, ele deu entrevista à ConJur, por telefone, analisando a política externa brasileira e o legado da “lava jato”.
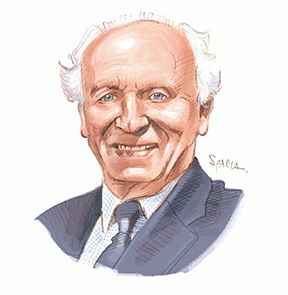
Desde a redemocratização, em 1985, o modo que o país encontrou para se projetar internacionalmente foi regido pelo mesmo princípio: diplomacia é a busca da autonomia por meio da participação.
O conceito, segundo o diplomata, começou a cair por terra quando Jair Bolsonaro assumiu a presidência. De lá para cá, diz, a política externa se tornou cada vez mais alinhada ao governo de Donald Trump e contrária a Pequim.
Mas política externa, antes de vir ao mundo, é gestada intestinamente. Em 2016, Ricupero afirmou que existia à época um “partido togado”, que podia interromper o jogo político a qualquer momento — em referência à força das autodenominadas “operações” que se arvoraram como combatentes da corrupção.
Revisitando o assunto, Ricupero disse que a “lava jato” perdeu força no decorrer dos anos e dá seus últimos suspiros. “Aqueles filhotes da ‘lava jato’ que tinham sido criados nas justiças federais de diversos estados continuam existindo, mas em fogo brando. Como fenômeno político-judiciário, a ‘lava jato’ hoje pertence mais ao domínio da história do que ao da realidade”, afirma. A conversa ocorreu antes de Sergio Moro deixar o Ministério da Justiça.
Se a “lava jato” é passado, o “partido da toga” legou ao país um novo presidente — e sua nova política externa, conduzida por agentes que negam o isolamento social como saída para enfrentamento da epidemia de Covid-19, mas que aceleram o isolamento do país no mundo.
“O saldo líquido das decisões brasileiras é nos levar ao isolamento — em todos os sentidos do termo — e a uma perda extraordinária do poder brando que o país tinha acumulado. Hoje, sem nenhum exagero, o Brasil é o país cujo governante figura entre os mais menosprezados e mais detestados do mundo. O cenário da política externa é um cenário de ruínas”, afirma.
Confira a entrevista na íntegra:
ConJur — Em entrevista concedida ao El País, o senhor afirmou que havia dois teatros durante a ditadura: o da vida política e o dos bastidores. Os fardados podiam intervir, interrompendo a peça a qualquer momento. De lá para cá, referindo-se à “lava jato” em Curitiba, disse que o partido fardado deu espaço ao partido togado. Ainda vê essa força toda emanando da “lava jato”?
Rubens Ricupero — Vejo uma espécie de esgotamento natural da operação, em parte por mudanças políticas — a eleição do Bolsonaro, a decisão de Moro aceitar ser ministro da Justiça, as revelações [do site] Intercept e toda a desmoralização que veio disso. A “lava jato” acabou. Ela continua existindo em tese, porque há condenações pendentes, assim como os recursos relativos ao Lula. Muito está por resolver, mas a “lava jato” acabou, assim como a “mãos limpas” acabou na Itália. O juiz que substituiu Moro não tem, nem de longe, aquele tipo de ativismo jurídico que o Moro tinha, ou aquele entendimento com os procuradores. Houve também uma certa aversão do STF e de outras instâncias. Aqueles filhotes da “lava jato” que tinham sido criados nas justiças federais de diversos estados continuam existindo, mas em fogo brando. Como fenômeno político-judiciário, a “lava jato” hoje pertence mais ao domínio da história do que ao da realidade.
ConJur — O senhor já afirmou em algumas ocasiões que o confronto inicial gerado pela “lava jato” teve importância e gerou consequências positivas. Hoje, com tudo que se sabe sobre a atuação do ex-juiz Sergio Moro e dos procuradores, mantém essa opinião?
Rubens Ricupero — Como consequência política, a “lava jato” teve um impacto enorme na história brasileira. É responsável por boa parte do que aconteceu nos últimos anos. Basta ver que os escândalos de corrupção colocaram fim ao período de hegemonia do PT. Até hoje o PT não se reergueu do golpe que levou. Por outro lado, sempre tive dúvidas sobre a duração da “lava jato”, que parecia exagerada enquanto operação judiciária. Além desse aspecto, a operação, em essência, pela própria natureza do Judiciário, continha uma limitação que, cedo ou tarde, acabaria por comprometê-la: operações policiais e judiciárias podem ser importantes para trazer luz sobre esquemas de corrupção, mas não conseguem por fim a eles. Isso acontece porque as soluções só podem ocorrer por meio de mudanças legislativas, algumas até de ordem constitucional, já que o que existia na raiz da corrupção eram problemas que apontavam para as imperfeições das instituições, para os defeitos que vão desde a politização das estatais até a ineficácia dos mecanismos de fiscalização.
O saldo da “lava jato” é que algumas pessoas foram punidas, com grau maior ou menor de adequação, mas as raízes do problema não foram removidas. Esse problema permanece, tanto que uma das suas consequências foi a de dar ao presidente Jair Bolsonaro a justificativa de não tentar fazer um presidencialismo de coalizão, negociando com os partidos políticos ministérios, verbas e cargos de estatais. Por outro lado, isso cria um conflito maior com o Congresso, o que, novamente, demonstra o quanto as instituições são defeituosas. Em resumo, vejo a “lava jato” como uma tentativa de atacar os sintomas, não as causas da doença. Talvez tenha conseguido inibir os sintomas por um tempo, mas não removeu as causas profundas e não fez isso porque não podia fazer. A operação teve um papel histórico, mas, por todos os defeitos práticos, e em certos momentos deixando visível um ativismo jurídico muito grande, a “lava jato” deixou de existir.
ConJur — Falando agora de política externa: é possível resumir a diplomacia brasileira, a partir da redemocratização, como a busca da autonomia por meio da participação. Com essa atuação, o país conquistou prestígio. Agora, a marca definidora da política externa é o alinhamento com os Estados Unidos. Quais os impactos disso?
Rubens Ricupero — É mais do que isso. Não é um alinhamento com os EUA, mas com o governo de Donald Trump, que, por sua vez, conduz uma campanha sistemática contra todas as instituições do sistema internacional criado no pós-guerra — o multilateralismo, um sistema que funciona na base de normas, de leis, não da força. Ao se alinhar com esse governo, o Brasil trabalha contra o seu próprio interesse, pois os EUA têm muito poder. Já o Brasil é um país com pouco poder, que pode se tornar vítima da força alheia. Nosso país não é uma potência econômica e militar. Mas tem poder brando, que é a diplomacia do convencimento, da persuasão, da negociação. Ao se alinhar com os EUA, abrimos mão disso e nos subordinamos a um país que, esse sim, tem poder e que pode utilizá-lo de maneira deflagradora, sem nenhum limite.
O saldo líquido das decisões brasileiras é nos levar ao isolamento — em todos os sentidos do termo — e a uma perda extraordinária do poder brando que o país tinha acumulado. Hoje, sem nenhum exagero, o Brasil é o país cujo governante figura entre os mais menosprezados e mais detestados do mundo. O cenário da política externa é um cenário de ruínas.
ConJur — Outra consequência apontada é o esgarçamento da relação com a China. Essas relações podem se desgastar ainda mais?
Rubens Ricupero — Essa deterioração é, em grande parte, culpa daquele núcleo mais ideológico, mais fanatizado do governo brasileiro. Mas, para além disso, há uma competição estratégica entre EUA e China, em todos os sentidos — militar, econômico, político etc. Quando o Brasil se alinha a Trump, ele está comprando a agenda norte-americana, que vem com todas as inimizades que os Estados Unidos têm: contra a China, Rússia, Irã, Cuba, e assim por diante.
Portanto, sem nenhuma justificativa para isso, o Brasil está no momento em posição antagônica a todos esses países que constituem grandes mercados para as nossas exportações. É claro que de imediato a China não vai, por exemplo, deixar de comprar soja do Brasil, pois não há uma alternativa fácil para nos substituir como fornecedores de alguns produtos. Mas, no médio e longo prazo, as relações comerciais ser tornarão cada vez mais difíceis. O Brasil está jogando todas as suas esperanças em um país [EUA] do qual ele não pode esperar nada. Nem mercado, nem investimento.
ConJur — Se não há justificativas, essa postura brasileira com relação à China ocorre por uma questão meramente ideológica?
Rubens Ricupero — Puramente ideológica. É o equívoco de uma maneira de ver o mundo. O Brasil vê o mundo com os olhos da guerra fria. É uma visão completamente fora do tempo histórico, anacrônica, porque o país se comporta hoje em relação à China como o governo militar do Castelo Branco em 1964 se comportava em relação à União Soviética. O Brasil vê a China como o centro do comunismo mundial, uma espécie de “origem do mal”, quando nada disso corresponde à realidade internacional.
ConJur — O senhor disse que os EUA — e agora o Brasil — se portam de modo contrário ao sistema criado no pós-guerra, indo no caminho do anti-multilateralismo. Agora o mundo passa por uma pandemia. O coronavírus matou o multilateralismo?
Rubens Ricupero — O que está acontecendo com a pandemia é que quase todas as reações têm sido majoritariamente de tipo nacional, infelizmente. Em um primeiro momento, é até compreensível que seja assim, porque diante de uma emergência cada nação reage da forma mais rápida que pode e isso quase sempre é mais fácil no plano nacional. Mas deveríamos rapidamente passar a uma fase de coordenação internacional, tanto para combater a doença quanto para combater as consequências econômicas dela. Há algum esboço para utilizar o Grupo dos Vinte [G20, formado pelos ministros de finanças e chefes dos bancos centrais das maiores economias do mundo] para sustentar a dívida dos países mais pobres durante um ano. Mas são reações fracas.
Mesmo na União Europeia, os países mais afetados pelo coronavírus, como a Itália e a Espanha, não receberam uma ajuda significativa da comunidade europeia. A Itália recebeu mais ajuda da China do que dos seus vizinhos no começo. Agora a União Europeia começa a reagir, mas o panorama é de sombras e luzes — mais de sombras. Existe algum grau de cooperação, mas é pequeno. E existe muitos, infelizmente muitos exemplos de egoísmo nacional, inclusive esses que afetaram o Brasil, de países que se atravessaram para comprar equipamentos que já tinham sido negociados. Então, sem dúvidas, o multilateralismo está em crise. Mas não desespero dele, porque acho que existem inúmeras perspectivas de que isso melhore. Por exemplo, ainda é incerto o que vai acontecer na eleição dos EUA. É possível que, devido a tudo isso, as eleições acabem enfraquecendo o atual presidente e ele não consiga se reeleger. Se ele não se reeleger, teremos condições de recuperar muito do que se perdeu em matéria de multilateralismo, porque 90% ou mais do que está acontecendo é praticamente resultado da ação do governo Trump.
ConJur — Dentro desse cenário de pandemia, o senhor vislumbra a possibilidade de que surja uma nova ordem econômica e jurídica?
Rubens Ricupero — Sobre isso eu tenho dúvidas. Pandemias e epidemias, mesmo as muito mais graves que essa, em geral nunca mudaram o sistema econômico-político. Quando elas foram muito fortes, elas afetaram tendências que já existiam. Mas mesmo a peste negra, a peste bubônica, assim como as pestes que se seguiram, nunca afetaram o sistema político das monarquias da época. As tendências, as rivalidades que existiam, assim como os sistemas econômicos de troca, permaneceram iguais. Os sistemas econômicos, políticos e jurídicos obedecem à ação de forças profundas.
O que podem ocorrer são mudanças de curto prazo, que às vezes se seguem quando há acontecimentos suficientemente poderosos. Eu não ficaria surpreso, por exemplo se, passada essa crise, os países buscarem adquirir uma certa autonomia, uma certa autossuficiência em matéria de produtos farmacêuticos e médico-hospitalares. As nações podem buscar reduzir a dependência sobre esses produtos que existe com relação à China e outros países asiáticos. Isso pode acontecer, mas não vejo a possibilidade de uma reforma profunda na estrutura do capitalismo ou do sistema político que temos hoje.
ConJur — Com o avanço do novo coronavírus, aliás, foram adotadas algumas medidas emergenciais. O Senado aprovou, por exemplo, o PL 1.179/20, que, entre outras coisas, flexibiliza dispositivos do Código Civil. O que acha de medidas como essa?
Rubens Ricupero — A ideia básica de tentar encontrar uma solução para o momento é correta. Há um abalo muito grande até no sistema normal de pagamentos. Muitas empresas e indivíduos não são capazes de cumprir suas obrigações. Em certos casos, as regras precisam ser suspensas, da mesma forma como está se fazendo com regras de contrato de trabalho, flexibilização que busca manter a existência do emprego. Portanto, acredito que essas iniciativas são necessárias. Não me refiro especificamente ao PL citado, mas à tentativa de dar uma resposta ao que está acontecendo. Os contratos são vigentes enquanto mantidas as condições em que eles foram celebrados. Quando as condições se alteram de modo muito radical, muitas vezes não há a possibilidade de manter os termos tal como foram acordados.
ConJur — Nos últimos anos, uma série de conflitos entre Legislativo e Executivo acabaram sendo resolvidos pelo Judiciário. O que pensa a respeito dessa judicialização?
Rubens Ricupero — Eu tenho a impressão de que esse fenômeno coincide com o agravamento da crise institucional. Vivemos uma crise prolongada, que começa no primeiro governo da Dilma Rousseff e que se prolonga até hoje. O impeachment não resolveu a crise e em cada governo surgem problemas novos. No fundo, o quadro é de mau funcionamento das instituições. O sistema presidencialista tem uma rigidez que não permite a solução de problemas quando há impasse entre Executivo e Legislativo — e a tendência é a de que esses poderes entrem cada vez mais em conflito.
Um exemplo que vem logo à mente é a incapacidade que o Legislativo tem de resolver problemas com conteúdos ligados à questões de tipo moral: moral familiar, moral sexual, aborto, casamento entre homossexuais etc. O Legislativo fica paralisado diante dessas questões porque há uma representação grande de grupos religiosos. Então, embora sejam claramente do âmbito do Legislativo, esses temas acabam indo ao Judiciário. Quase todas as grandes decisões envolvendo temas como esses — o aborto no caso de fetos anencéfalos, casamento homoafetivo — foram talhadas pelo Judiciário. Creio que isso continuará acontecendo, porque a solução definitiva é fazer uma reforma profunda do sistema político, o que não parece estar no horizonte. Assim, as pautas continuarão indo ao Judiciário.
ConJur — Em casos como esses, em que o Legislativo deixa um vácuo ao não tratar de certas questões, é justificável a atuação do Judiciário?
Rubens Ricupero — Existe a necessidade colocada pelo próprio sistema político. Não se pode conviver com o vácuo de poder. Há decisões que precisam ser tomadas. Se não forem pelas instâncias que normalmente deveriam resolver o problema, acabam indo aos tribunais. Nesse sentido, a necessidade justifica as decisões judiciais. Não é o ideal, mas não vejo outra saída.






 O caso traz questões peculiares, com reflexos no direito ao trabalho dos atletas, e que vêm sendo observadas com alguma frequência, com decisões conflitantes, tanto pelas câmaras de resolução de conflitos quanto pelo próprio Poder Judiciário, quando a este submetidas.
O caso traz questões peculiares, com reflexos no direito ao trabalho dos atletas, e que vêm sendo observadas com alguma frequência, com decisões conflitantes, tanto pelas câmaras de resolução de conflitos quanto pelo próprio Poder Judiciário, quando a este submetidas.