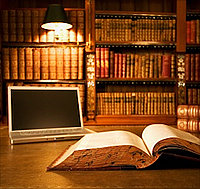Continua parte 2
3.3.2. Nos contratos de locação de imóvel urbano
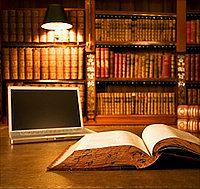 Contrato de especial densidade social é o de locação de imóvel urbano. Importante ferramenta de fomento e de proteção da moradia, nas locações residenciais, bem como das atividades econômicas, quando voltado a imóveis não-residenciais, os contratos de locação têm sofrido grande impacto em razão da crise epidêmica.
Contrato de especial densidade social é o de locação de imóvel urbano. Importante ferramenta de fomento e de proteção da moradia, nas locações residenciais, bem como das atividades econômicas, quando voltado a imóveis não-residenciais, os contratos de locação têm sofrido grande impacto em razão da crise epidêmica.
No caso dos contratos de locação de imóveis urbanos residenciais, diversos locatários têm se visto em dificuldade de pagar os aluguéis, isso porque muitos já perderam seus empregos em razão das dificuldades econômicas que seus empregadores vêm passando, ou mesmo tiveram seus salários reduzidos ou contratos de trabalho suspensos, o que foi autorizado pela Medida Provisória n° 936/2020. Além das pessoas que eram empregadas na iniciativa privada, há, ainda, a situação relativa aos profissionais liberais e autônomos que também vêm sofrendo os efeitos econômicos decorrentes da pandemia da Covid-19 e dos atos das autoridades públicas para a continuidade do exercício de suas atividades.
Já nos contratos de locação de imóveis não-residenciais, a situação se revela ainda mais grave, tendo em vista a adoção de diversas medidas dos governos locais determinando o fechamento de estabelecimentos comerciais de rua e shoppings, trazendo uma impossibilidade absoluta de os locatários auferirem renda com a exploração de sua atividade e, consequentemente, inviabilizando o pagamento dos aluguéis.
Visando dar uma solução para este verdadeiro drama social, o autor do Projeto de Lei 1.179/2020, Senador Antonio Anastasia (PSDB/MG), fez inserir no referido Projeto o art. 10, o qual conferia aos locatários que tiveram a sua condição financeira alterada pela Covid-19, como demissão e redução de salário, o direito potestativo de suspender o pagamento dos aluguéis até 30.10.2020, valores esses que seriam posteriormente pagos de modo parcelado.
A referida disposição, no entanto, após grande repercussão negativa no mercado imobiliário, foi excluída do texto final do Projeto de Lei nº 1.179/2020 aprovado no Senado Federal, tendo sido ponderada também a necessidade de diversos locadores de receberem o aluguel, uma vez que muitos deles têm como sua única fonte de renda esse valor. Além disso, diversos locatários também não tiveram suas condições econômicas alteradas, e o risco de fraude seria grande, mediante a invocação de uma situação inexistente, a qual não seria passível de controle imediato porque o direito à suspensão dos pagamentos se caracterizava inequivocamente como um direito potestativo, e o Poder Judiciário se encontra com algumas atividades suspensas (como, por exemplo, realização de audiências nas varas e sessões nos tribunais fisicamente presenciais), funcionando na grande maioria dos Estados em regime apenas de plantão.
Assim, o art. 10 do PL 1.179/2020 foi retirado do seu texto final, o que parece acertado, deixando-se a cargo dos magistrados a análise casuística das situações que forem apresentadas, permitindo-se a revisão contratual caso presentes os requisitos que a autorizem, não se aplicando a vedação/limitação às revisões prevista no caput do art. 7º do Projeto de Lei nº 1.179/2020, como dispõe o § 1º do próprio art. 7º, no qual se prevê que as regras sobre revisão contratual previstas na Lei 8.245/1991 não se sujeitam ao disposto no caput do mencionado artigo.
3.3.3. Nas relações de consumo
Os efeitos da pandemia também trouxeram grandes impactos sobre as relações de consumo, especialmente aquelas que envolvem prestações continuadas, em que o vínculo das partes se protrai no tempo, de modo que contratos celebrados antes da disseminação da Covid-19, e que continuam vigentes, também foram afetados por seus danosos efeitos.
Dada a existência de uma relação naturalmente desequilibrada, em decorrência da vulnerabilidade fática, técnica ou econômica dos consumidores frente aos fornecedores, o Projeto de Lei nº 1.179/2020, assim como o fez nos contratos de locação de imóvel urbano, previu expressamente que as circunstâncias do seu art. 7º, que impedem a revisão dos contratos, não afastam a aplicação das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor que a autorizam.
Assim, permanece incólume, por exemplo, a previsão do art. 6º, V, do CDC que prevê como direito básico do consumidor a revisão dos contratos por fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. No presente caso, não poderia ser diferente a solução dada, e isso porque no referido art. 7º do Projeto de Lei nº 1.179/2020 afirma-se que não se consideram imprevisíveis o aumento da inflação, a variação cambial e a desvalorização ou substituição do padrão monetário. E a impossibilidade de se dar solução diversa decorre do fato de que, a regra que autoriza, no diploma consumerista, a revisão contratual por fato superveniente não exige a imprevisibilidade, tendo dado o legislador de consumo tratamento diverso daquele dado, por exemplo, no art. 478 do Código Civil.
Com efeito, em se tratando de relação de consumo, tais eventos enumerados no art. 7º do Projeto de Lei nº 1.179/2020 podem autorizar a revisão contratual, tutelando-se, desta forma, de modo pleno a parte mais vulnerável da relação.
3.4. Suspensão do direito de arrependimento nas aquisições de bens por “delivery”
Ainda no âmbito dos impactos da Covid-19 sobre as relações de consumo, outro ponto que mereceu regulação da legislação transitória é aquele que diz respeito ao direito de arrependimento previsto no art. 49 do diploma consumerista.
A lei de consumo, em seu art. 49, traz importante ferramenta de proteção dos consumidores nos casos de aquisição de produtos e serviços à distância, isto é, quando não estiverem em contato físico e direto com o bem objeto da compra.
Nestes casos, tem o consumidor o direito de se arrepender da contratação, no prazo de 7 (sete) dias a contar do recebimento do produto ou da prestação do serviço, devolvendo o bem ao fornecedor e recebendo, em contrapartida, o valor pago de volta.
O propósito da norma é proteger o consumidor de publicidades enganosas ou abusivas, que são aquelas que induzem o consumidor a erro, fazendo-o adquirir produto ou serviço que não quer, que não precisa, que não tem as qualidades, características e funcionalidades propagandeadas, ou mesmo que exponham o consumidor a risco.
Assim, por estar o consumidor fisicamente distante do bem, não consegue avaliar adequadamente todos esses aspectos, sujeitando-se a uma compra que, verdadeiramente, não desejava, daí porque se mostra relevante conferir ao adquirente, nessas hipóteses, o direito de arrependimento mediante o recebimento, de volta, do valor pago.
Não obstante, durante o período da pandemia, este direito sofrerá restrições, isso porque, segundo o disposto no art. 8º do Projeto de Lei nº 1.179/2020, fica suspenso, até 30.10.2020, o exercício do direito de arrependimento nos casos de entrega domiciliar (delivery) de produtos perecíveis ou de consumo imediato e medicamentos.
A referida disposição é lógica, e também já merecia reflexão mesmo fora do período de pandemia. Inicialmente, é preciso deixar claro que o direito de arrependimento não foi suprimido ou suspenso durante o período de grande propagação e contágio do vírus. O direito do consumidor subsiste, apenas ficando restrito o seu exercício nas hipóteses excepcionalmente previstas na lei transitória, isto é, apenas nos casos de entrega domiciliar de bens perecíveis de consumo imediato e medicamentos. Nos demais casos de compras à distância, aplica-se plenamente o disposto no CDC.
Justifica-se a limitação imposta no Projeto de Lei nº 1.179/2020 pela própria natureza dos bens enumerados em seu art. 8º. A toda evidência quis o legislador tratar dos gêneros alimentícios, particularmente aqueles para consumo imediato, como refeições e lanches adquiridos à distância por telefone, internet ou aplicativos eletrônicos, e dos medicamentos, os quais, por certo, não podem ser consumidos por terceiros após a devolução.
A norma do art. 49 do CDC tem como propósito a tutela do consumidor, mas sem descuidar do equilíbrio da relação, na medida em que possibilita ao fornecedor, ao receber o produto de volta, recolocá-lo na cadeia de consumo. No caso dos bens perecíveis e de consumo imediato, bem como os medicamentos, após serem experimentados pelo consumidor, ou terem suas embalagens violadas, não podem ser reaproveitados, levando ao seu perecimento, tanto fático, quanto jurídico. Portanto, mesmo fora do período da pandemia, o exercício do direito de arrependimento, nessas hipóteses particulares, merece reflexão, não sendo cabível de modo absoluto e irrestrito.
Mas, durante a pandemia é ainda mais justificável a disposição. Isso porque inúmeros comerciantes vêm sendo obrigados a limitar suas atividades à entrega em domicílio, dada a profusão de leis, medidas provisórias e decretos que têm imposto a proibição da presença física dos consumidores nos salões de restaurantes e lanchonetes. Assim, como medida de sobrevivência do próprio negócio, a única fonte de receita desses fornecedores é a entrega dos bens no domicílio do consumidor.
Desse modo, autorizar que o consumidor, após experimentar ou consumir o alimento, possa se arrepender e devolver a coisa, além de uma possível violação à boa-fé (como no caso de não existir qualquer irregularidade com a coisa adquirida), também poderá trazer consequências econômicas drásticas para os comerciantes.
Por essa razão, recomenda-se que, diante de alguma situação peculiar, como a má-qualidade do produto, devam as partes tentar uma negociação, como, por exemplo, a troca por outro alimento, e não o exercício unilateral do direito potestativo de arrependimento.
3.5. Proibição de concessão de liminares em ação de despejo pelo inadimplemento em contratos de locação de imóvel urbano
Último ponto a ser examinado acerca do regramento que o Projeto de Lei nº 1.179/2020 visa dar aos contratos diz respeito à impossibilidade de concessão liminar de despejo por inadimplemento em contratos de locação de imóvel urbano.
Primeiramente, é preciso destacar que a ação de despejo tem uma peculiar particularidade. Embora se caracterize, na divisão quinaria das decisões (sentenças), como executiva, na medida em que compreende ela própria uma ordem de execução, impondo-se a retirada do locatário do imóvel (inclusive através de medidas coercitivas concretas), tem ela, conjuntamente, inequívoco caráter desconstitutivo, na medida em que promove a rescisão do contrato de locação. Portanto, a ordem de despejo leva à extinção do contrato, daí porque não se exige, para o despejo, que o locador formule pedido de rescisão do vínculo, pois o próprio despejo já o promoverá.
Assim, o despejo liminar nada mais faz do que pôr fim, antecipadamente, ao vínculo jurídico contratual que une o locador ao locatário, em juízo de cognição sumária, isto é, sem que se esgote todo o iter processual no qual se ateste, de modo inequívoco, o inadimplemento das obrigações do contrato que justifique a sua rescisão.
Por essa razão, e durante o período da pandemia, o Projeto de Lei nº 1.179/2020, em seu art. 9º, busca limitar a possibilidade de concessão liminares de despejo em ações propostas pelos locadores em face do locatários, nas hipóteses previstas no art. 59, § 1º, I, II, V, VII, VIII e IX, da Lei 8.245/1991, até 30.10.2020, tendo em vista a situação de excepcionalidade.
As únicas exceções em que será admitido o despejo liminar são aquelas previstas no art. 59, § 1º, IV e VI da Lei do Inquilinato, em que houver a morte do locatário sem ter deixado herdeiros, bem como para realização de obras emergenciais. Em todos os demais casos, está proibida a concessão de liminar nas ações de despejo, o que se revela admissível, não havendo violação ao exercício constitucional do direito de ação, e tampouco do princípio da inafastabilidade do controle do Poder Judiciário, dada a excepcionalidade das circunstâncias, que visam tutelar interesses outros, de índole existencial, como a própria moradia. O legislador, então, ponderando os diversos interesses, entendeu pela predominância deste último. Cumpre observar, ainda, que o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a constitucionalidade de certas leis que proíbem a concessão de liminares, como é o caso da Lei 8.437/1992 que veda a concessão de liminares contra a Fazenda Pública em determinadas hipóteses.[3]
Quanto ao extenso rol previsto no Projeto de Lei nº 1.179/2020 como proibitivo da concessão de liminar, por certo o objetivo principal é proteger os locatários no período da pandemia contra eventual despejo pelo inadimplemento da obrigação de pagar os aluguéis. Os efeitos danosos que as medidas de contenção ao avanço da Covid-19 estão produzindo sobre a economia tem levado inúmeros locatários a já enfrentar problemas para pagamento dos aluguéis, dificuldade essa que, evidentemente, ainda se estenderá por alguns meses.
Com a referida previsão, então, resguarda-se o locatário durante o período da crise, mas também não se deixa de tutelar o locador. Isso porque os aluguéis e demais obrigações contratuais devem continuar a ser cumpridas, haja vista que, como visto anteriormente, foi retirado do texto original do Projeto de Lei a possibilidade de se suspender a exigibilidade dos aluguéis durante o período da pandemia.
Então, o locador continua a poder exigir do locatário o pleno cumprimento do contrato, salvo ajuste consensual, mas apenas não poderá rescindi-lo antecipadamente, através da concessão liminar do despejo, durante o período estabelecido no Projeto de Lei nº 1.179/2020.
Por fim, cumpre também destacar que a referida proibição à concessão da liminar apenas se aplica às ações propostas após o início da crise epidêmica, em que o Projeto de Lei nº 1.179/2020 fixou como marco o dia 20.03.2020, conforme o disposto no parágrafo único do seu art. 9º. A disposição é óbvia: a pandemia não pode servir de salvo-conduto aos locatários que já estavam inadimplentes antes da propagação da Covid-19, por razões que nenhuma relação têm com o atual estado de crise.
Esta coluna é produzida pelos membros e convidados da Rede de Pesquisa de Direito Civil Contemporâneo (USP, Humboldt-Berlim, Coimbra, Lisboa, Porto, Roma II-TorVergata, Girona, UFMG, UFPR, UFRGS, UFSC, UFPE, UFF, UFC, UFMT, UFBA, UFRJ e UFAM).
[3] BRASIL, STF, Tribunal Pleno, ADC n° 04. Rel. Ministro Sydney Sanches. Redator para o Acórdão Ministro Celso de Mello, DJe 30/10/2014.
Guilherme Calmon Nogueira da Gama é desembargador do TRF da 2ª Região; professor titular de Direito Civil da Universidade do Estado do Rio de Janeiro; professor permanente do PPGD da Universidade Estácio de Sá; professor titular de Direito Civil do IBMEC; mestre e doutor em Direito Civil pela UERJ.
Thiago Ferreira Cardoso Neves é advogado, mestre e doutorando em Direito Civil pela UERJ, professor dos cursos de pós-graduação da Emerj, do Ibmec e do CERS, Visitingresearcherno Max Planck Institute for ComparativeandInternational Private Law — Hamburg-ALE — e vice-presidente administrativo da Academia Brasileira de Direito Civil — ABDC.
 A inspeção predial, conforme definição e objetivo delineado na própria NBR 16.747, consiste em um processo de avaliação, predominantemente sensorial, do estado de conservação e funcionamento da edificação, apontando as suas patologias e as prioridades a serem objeto de manutenção, viabilizando o acompanhamento sistêmico da vida útil da construção e de seus sistemas, a fim de manter condições mínimas de segurança e higidez do edifício e mitigar os riscos técnicos e econômicos associados à falta de manutenção.
A inspeção predial, conforme definição e objetivo delineado na própria NBR 16.747, consiste em um processo de avaliação, predominantemente sensorial, do estado de conservação e funcionamento da edificação, apontando as suas patologias e as prioridades a serem objeto de manutenção, viabilizando o acompanhamento sistêmico da vida útil da construção e de seus sistemas, a fim de manter condições mínimas de segurança e higidez do edifício e mitigar os riscos técnicos e econômicos associados à falta de manutenção.

 Em
Em