Historicamente, o primeiro registro da advocacia pública no Brasil remonta ao 1º Foral de Olinda, datado de 1537, que trouxe a figura do procurador do Conselho da Villa de Olinda. Quase meio milênio depois, verifica-se que o déficit de procuradores municipais no cenário jurídico pátrio ainda é extremamente preocupante, o que não deixa de ser um grande paradoxo, tendo em vista que, apesar de sermos os primogênitos da advocacia pública brasileira, seremos, certamente, os últimos a ser instituídos na integralidade.
 Indispensável pontuar nesse contexto o papel da Associação Nacional de Procuradores Municipais (ANPM), que vem há mais de duas décadas fomentando a instituição e o fortalecimento das Procuradorias Municipais no país, atendendo, desta forma, ao pórtico do artigo 132 da Carta Magna, que prevê a advocacia pública como função essencial à Justiça.
Indispensável pontuar nesse contexto o papel da Associação Nacional de Procuradores Municipais (ANPM), que vem há mais de duas décadas fomentando a instituição e o fortalecimento das Procuradorias Municipais no país, atendendo, desta forma, ao pórtico do artigo 132 da Carta Magna, que prevê a advocacia pública como função essencial à Justiça.
Há 17 anos, tramita no Congresso Nacional a PEC que constitucionaliza expressamente a carreira dos procuradores municipais. Aprovada em dois turnos na Câmara dos Deputados, atualmente a PEC encontra-se no Senado Federal, esperando pauta para votação. Nesse longo período de tempo, várias foram as tratativas e articulações no meio político. A aprovação ainda não veio, é bem verdade, mas ainda assim os avanços continuam e são inegáveis.
Em 2019, tivemos uma grande vitória no Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE 663696. impetrado pelos destemidos colegas da Procuradoria de Belo Horizonte. Nos autos, discutia-se o teto remuneratório dos procuradores municipais. No mérito, obtivemos a confirmação, por meio da Egrégia Corte, em sede de repercussão geral, de que estávamos insertos no seleto rol das funções essenciais à Justiça previstas no Capítulo IV, Título IV, da Constituição Federal.
Com efeito, tem a ANPM buscado a criação de procuradorias nos 5.570 municípios brasileiros. São abnegados colegas, figurando ora como delegados, ora na diretoria, ou mesmo integrando o Conselho Deliberativo através da presidência das várias associações locais, além de contar com voluntários que se espalham pelo país em busca do fortalecimento das procuradorias e das carreiras de procurador municipal.
Na Paraíba, por exemplo, avançou-se muito nos últimos dois anos com a celebração de cerca de 185 termos de ajustamento de conduta pelo Ministério Público Estadual, fato que propiciará a realização de mais de cem concursos para procurador municipal no Estado. O caso foi tão exitoso e teve tamanha repercussão que foi apresentado no último Congresso Nacional de Procuradores Municipais, realizado em Brasília, em outubro de 2019, culminando com a promessa de que a experiência seria replicada pelos colegas em outras regiões do país.
Com a decretação da Pandemia da Covid-19 pela Organização Mundial da Saúde no mês de março do ano corrente, a situação jurídico- institucional dos entes federados e de seus respectivos servidores foi profundamente modificada. O advento do teletrabalho como regra, a edição quase que diária de atos normativos para disciplinar o período extraordinário, a intensa litigiosidade entre os entes… Além disso, outros grandes debates emergiram. Costuma-se dizer que o Direito está sendo literalmente reescrito nos dias atuais.
Nesse passo, entre as discussões acima mencionadas, destaca-se no contexto associativo da ANPM a que trata da viabilidade ou não da realização das eleições municipais neste ano. Há várias correntes de pensamento sobre o tema, bem como PECs tramitando no Congresso Nacional para tratar do assunto, dada a relevância e urgência da matéria.
Desta feita, em apertada síntese, três possibilidades surgiram:
I ) Realização do pleito em outubro, como normalmente ocorre;
II) Adiamento do pleito para dezembro;
III) Cancelamento do pleito e, consequentemente, a unificação dos mandatos e das eleições para todos os cargos eletivos em 2022.
Tem ganhado corpo no mundo político/jurídico e tem sido defendida, inclusive, pelo presidente do TSE, o ministro Luís Roberto Barroso, a tese estabelecendo que as eleições municipais devem ser realizadas neste ano, sendo adiadas para o mês de dezembro. Segundo essa possibilidade, teríamos o chamado primeiro turno no primeiro domingo de dezembro e o segundo no terceiro domingo, às vésperas do Natal. No tocante aos novos mandatos, não teríamos mudanças, eles iniciariam em 1º janeiro de 2021.
Ressalte-se, por oportuno, que nos municípios brasileiros temos eleições bastante acirradas, com envolvimento direto dos munícipes nos pleitos. É preciso lembrar ao leitor, também, o caráter extremamente heterogêneo dos municípios brasileiros. Enquanto temos de um lado cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, com alguns milhões de habitantes, temos também Araguainha, Borá e Serra da Saudade, que não completam sequer o primeiro milhar de habitantes, de acordo com os dados oficiais.
É prática comum nos municípios brasileiros a não efetivação da chamada transição democrática entre antecessores e sucessores. Não obstante o aperfeiçoamento e o fortalecimento dos órgãos de controle, bem como das recomendações dos Tribunais de Contas e do monitoramento dos Ministérios Públicos Estaduais, o que se vê é a sonegação desenfreada de informações, a exclusão de dados em sistemas, o sumiço de materiais e equipamentos, entre outras atitudes capazes de inviabilizar a futura gestão.
Isso num cenário em que os “novos gestores” tinham 60 ou 80 dias para se inteirar da realidade que encontrariam no primeiro dia de mandato. Imagine em um cenário de 10 dias de transição, com as festividades de fim de ano entre eles.
Nessa difícil, mas provável, conjuntura que se avizinha, emerge a importância cada vez maior da figura do procurador municipal de carreira, nomeado após concurso público de provas e títulos. Detentor de parte da memória jurídica do município, ele certamente facilitará os primeiros dias da gestão, propiciando que esta possa ter conhecimento da realidade “intra muros”, permitindo o compartilhamento de informações e auxiliando o novo gestor nos primeiros passos do mandato.
É pelos procuradores municipais que o novo gestor saberá quais os programas estão sendo executados e não poderão sofrer interrupções, mormente em razão da sucessão do gestor. Além disso, a PGM vai instruir, juridicamente, os primeiros atos do governante, como elaboração de leis decretos, portarias, etc. Importante lembrar que o município poderá estar sujeito a alguma obrigação imposta pelo Judiciário e, neste caso, somente o procurador poderá informar como o novo prefeito deverá proceder diante de uma sentença judicial.
O escolhido nas eleições não pode ter ciência de todos esses fatores apenas depois do início do seu mandado. Esse conhecimento deve acontecer antes da sua posse, mesmo porque alguma informação poderá e deverá influir nos primeiros atos da nova gestão. Nesse ponto, ressalta-se a importância de uma transição de mandatários clara, amistosa e em sintonia com os melhores interesses dos administrados, o que resta prejudicado com a sensível diminuição do período desta passagem, mas o que se tornaria impraticável sem a iluminação jurídica emanada dos essenciais procuradores municipais, os quais preexistem a qualquer governante e permanecem na Administração após o término do mandato.
Não se sugere no presente que o procurador seja a panaceia para os tempos de tormenta a serem enfrentados pelo gestor, mas certamente dividir o fardo com uma procuradoria instituída e qualificada facilitará a travessia.
É tempo de fortalecer as instituições, elas são o fundamento do Estado democrático de Direito e esse é o porto seguro para efetivação de valores fundamentais previstos na Constituição Cidadã.
Alessandro Farias Leite é procurador do município de Campina Grande (PB) e diretor da ANPM.


 A tartaruga nunca é vencida. Está sempre à frente do seu tempo. Sempre adiante da retumbante força de Aquiles. É um paradoxo que seja menor, mais lenta, menos punjante e ao mesmo tempo esteja sempre ali… Na dianteira do tempo e do espaço, renitente e sempre presente… Jamais vencida, quando o olhar se desloca para além do tempo presente.
A tartaruga nunca é vencida. Está sempre à frente do seu tempo. Sempre adiante da retumbante força de Aquiles. É um paradoxo que seja menor, mais lenta, menos punjante e ao mesmo tempo esteja sempre ali… Na dianteira do tempo e do espaço, renitente e sempre presente… Jamais vencida, quando o olhar se desloca para além do tempo presente. 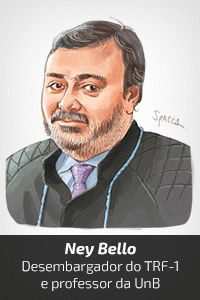 Ser a voz da minoria é desafiar os pés ligeiros de quem corre como o vento, na poética de Homero; é compreender o seu afazer judicante como a necessária voz dos que pensam dissonantemente e precisam ser ouvidos no Supremo Tribunal Federal.
Ser a voz da minoria é desafiar os pés ligeiros de quem corre como o vento, na poética de Homero; é compreender o seu afazer judicante como a necessária voz dos que pensam dissonantemente e precisam ser ouvidos no Supremo Tribunal Federal.

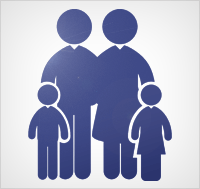

 No dia 30 de abril de 2020, foi publicado artigo sobre a importância “cumprir a letra da lei”. Neste, sustenta-se que “quando o judiciário se nega a cumprir um claro texto e não o declara inconstitucional, simplesmente lhe nega a validade. Como se fosse nulo, írrito, nenhum o texto da lei”.
No dia 30 de abril de 2020, foi publicado artigo sobre a importância “cumprir a letra da lei”. Neste, sustenta-se que “quando o judiciário se nega a cumprir um claro texto e não o declara inconstitucional, simplesmente lhe nega a validade. Como se fosse nulo, írrito, nenhum o texto da lei”.